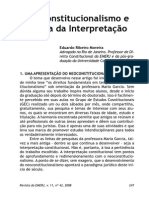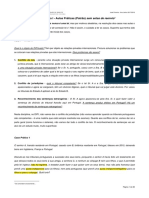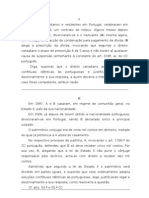Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
M D - 1Â - Freq
Enviado por
Mariana MoreirTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
M D - 1Â - Freq
Enviado por
Mariana MoreirDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Metodologia do Direito
Regente: José Manuel Aroso Linhares
Bibliografia: “Metodologia Jurídica” de Castanheira Neves e bibliografia complementar
indicada nos sumários.
Aulas práticas: a partir de 30 de setembro.
Avaliação: repartida sem registo de presenças (22 de outubro e 13/dezembro às 17h) ou
por exame final.
I. INTRODUÇÃO
A expressão “metodologia jurídica” tem um sentido completamente diferente se
partirmos do angulo de visão do sistema anglo-saxónico ou do sistema jurídico brasileiro.
Na Europa Continental, a expressão tem um significado único: preocupa-se com certas
práticas jurídicas e com uma possível reflexão sobre o percurso dessas práticas. São as
práticas jurisdicionais, que correspondem à resolução dos casos pelos juízes. A
preocupação é o método que deverá ser seguido pelos julgadores quando mobilizam os
materiais jurídicos para resolver os casos suscitados. É o modus operandi do juiz.
Não se trata propriamente de estar a apresentar um diagnóstico relativamente ao
modo como os juízes decidem. Trata-se fundamentalmente de acentuar uma componente
normativa ou regulativa. Mas esta questão não pode ser construída em abstrato ou de
forma ideal, afastada da realidade. Não pode ignorar as tendências da prática, nem o caso
concreto. Tem de ser contextualizada, certamente; privilegiadamente num contexto
romano-germânico, embora haja semelhanças com o sistema de common law.
Evidentemente que esta pergunta formulada no nosso tempo está longe de ter uma
resposta fácil. Houve períodos históricos em que a resposta era relativamente fácil, em
que se apostava num determinado modelo de juiz. O Iluminismo (Montesquieu, Rousseau
e Kant) trouxe a ideia de que o julgador devia projetar em concreto aquilo que a lei na
sua universalidade racional pré-determinava em abstrato. Logo, o modus operandi do juiz
era um método de aplicação lógico-dedutiva. Era o paradigma da altura. Evidentemente,
esta compreensão do papel da jurisdição, com grande importância na instituição do Estado
de Direito do séc. XIX, não é adequada ao nosso tempo. Alterou-se o papel do juiz e a
própria conceção de Direito. Abriram-se as portas a uma grande pluralidade de conceções
sobre o papel do juiz. Esta pluralidade não pode ser ignorada.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 1
A nossa tarefa aqui é apresentar uma proposta de esquema metódico, que deve
muitíssimo ao Sr. Dr. Castanheira Neves, que devemos designar de “proposta
jurisprudencialista”. Mas é uma proposta entre outras perspetivas possíveis.
O discurso do séc. XIX, na sua vertente metodológica, teve a preocupação de
formular o Método Jurídico, com a intenção de aparecer como um método racional que a
prática deveria seguir. Era um esquema muito claro e muito definido, com várias
operações, que culminava no silogismo subsuntivo. Era um percurso subjacente à prática
jurídica. Embora houvesse outras vozes, este era o pensamento dominante.
Com a viragem do séc., este paradigma começou a sofrer críticas e a tornar-se
vulnerável, tanto a nível da imagem do Estado (que passou a ver-se como um Estado
Social), como a nível da própria conceção de Direito. O sec. XX abriu muitas portas que,
hoje, ainda permanecem abertas. O paradigma foi superado, mas não deu origem a um
novo paradigma ou a um novo pensamento dominante. A nossa situação atual é,
sobretudo, uma situação de grande pluralidade.
Este é um desafio interessante. As questões que vamos colocar não são
diretamente vinculadas ao conteúdo das soluções. Trata-se de nos perguntarmos, como
que num segundo, como é que os juízes chegam a uma determinada solução, como
trataram os materiais jurídicos. A preocupação é o caminho percorrido pelos juízes para
a solução. São questões meta-dogmáticas, porque estamos a perguntar como se construiu
a solução e, sobretudo, como se deveria construir.
Os materiais jurídicos são experimentados e articulados. Pode dar-se maior ou
menor peso à perspetiva dos princípios, aos exemplos da jurisprudência judicial e isso
basta para que a solução seja diferente. A solução é construída. E está vinculada àqueles
materiais. O que não significa que seja evidente – embora este fosse o grande objetivo do
paradigma do séc. XIX.
A nossa circunstância presente mostra que os materiais são complexos (lei,
doutrina, jurisprudência, etc.) e, além disso, temos o problema de saber como se devem
mobilizar e pesar - no plano metodológico, são questões decisivas.
Não deixaremos de dar atenção a algumas soluções judiciais, mas esta análise não
será para discutir a solução jurídico-material do problema, mas sobretudo para
problematizar o modo como ela foi construída.
As questões iniciais que vamos tratar prendem-se com o sentido autêntico que
deverá ter a análise metodológica.
Uma primeira sugestão de leitura introdutória do Dr. Aroso passa por um artigo
do Dr. Castanheira Neves, escrito nos anos 60 e publicado em 1968 no Boletim da
Faculdade, designado “o papel do jurista no nosso tempo”. Antecipa muitas das nossas
preocupações ao longo do semestre. Distingue vários problemas que deverão ocupar o
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 2
jurista. Estabelece uma distinção entre três grandes tipos de questões que, numa
perspetiva meta-dogmática, deverão ocupar os juristas.
Primeiro, a pergunta pelo porquê do Direito. Dirige-se ao problema do
fundamento do Direito. Dirige-se aos valores, às expectativas ou às aspirações que
distinguem o Direito. De facto, a resposta ensaiada por Castanheira Neves prende-se com
a exigência de pensar o Direito como a institucionalização de uma ordem de validade,
pensada fundamentalmente a partir de uma exigência de inter-relação de sujeitos-pessoas.
É como se o Direito tivesse um projeto, quer com sucesso, quer com fracasso. A
institucionalização de uma ordem de validade é o objetivo do Direito. E a análise dos
resultados deve partir das expectativas, desse projeto inicial. Não é com esta pergunta que
nos vamos preocupar. Certamente, a identificação do Direito como uma ordem de
validade e como uma validade que se compreende associada à pessoalidade é um dos
nossos horizontes, pois o esquema metódico jurisprudencialista leva a sério esta ideia.
Temos de considerar mais duas outras questões. A seguir ao “porquê”, deverá
questionar-se o “para quê”, que é uma questão funcional. Procurar-se-á a função do
Direito no contexto social. Castanheira Neve acentua o papel do Direito como uma certa
instância critica da própria institucionalização social. O que esperamos do Direito hoje é
que ele, numa perspetiva em que o Direito visa instituir uma ordem de validade,
estabeleça limites claros ao exercício do poder e à própria dinâmica pelo ciclo económico.
Para além destas duas perguntas, nas quais não nos vamos debruçar, temos a
terceira: “de que modo”. Reconduz-nos, em pleno, ao problema metodológico, pois exige
reconhecer, no caso concreto da vida, o verdadeiro percurso do Direito. A controvérsia
jurídica tem características próprias relativamente a outros problemas sociais, o que lhe
dá uma autonomia muito própria. Logo, ao nível da resposta, há a acentuação de que o
núcleo de identidade do Direito deve ser procurado na resposta que o julgador vai dar à
controvérsia. Há nesta resposta a identificação clara do problema metodológico. E o
Método Jurídico não se baseia na aplicação do Direito, mas sim na sua realização
(preciosidade linguística).
A resposta a estes três tipos de questões permite-nos entender que a nossa grande
reflexão meta-dogmática passará pelo modo com que se realiza o Direito.
A esta distinção se contrapõe a distinção elaborada por Castanheira Neves, desde
logo, no “porquê”, em que vê o Direito como uma herança cultural do Ocidente, que nos
impede de identificar este Direito com o Direito tout court. Assim, admite-se que possa
haver respostas com matrizes e identidades diferentes. À luz do património europeu,
temos que ter humildade de reconhecer que estas são soluções culturalmente possíveis.
Devemos evitar essa vertigem étnico-cêntrica. Existem várias respostas possíveis ao
problema do porquê do Direito.
Por um lado, reconhecemos que a dita reflexão metodológica não pode deixar de
refletir a compreensão que temos do Direito. Não podemos perguntar “de que modo” de
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 3
forma absolutamente neutra, isto é, independentemente do sentido que atribuímos ao
Direito. não é possível. O esquema metódico que associamos à realização do Direito
depende do modo como o vemos e das suas exigências.
Se considerarmos o Direito um instrumento flexível e pragmático de realização de
expectativas sociais (e não uma ordem de validade), o esquema metódico será diferente.
Isto para dizer que o esquema metódico não é um modelo neutro.
Muitas vezes, diz-se que a Metodologia Jurídica é um espelho do conceito de
Direito. Não está correto. Quando se fala em “conceito”, a preocupação é identificar uma
série de características para a identificação de uma ordem de Direito. Quando falamos em
“conceção”, a preocupação vira-se mais para os valores, exigências ou aspirações
presentes numa prática ou numa decisão para que a levemos a sério e verdadeiramente
jurídica. Se uma prática (ex.: lei) viola sistematicamente conceções de igualdade, não
estaremos perante uma prática jurídica. Ao concluirmos isto, estaremos a dizer que,
embora seja uma prescrição normativa, põe em causa determinados valores. Queremos
uma determinação de exigências e sentidos que o Direito deve prosseguir.
Se dermos atenção à palavra “metodologia”, vemos que há três componentes de
origem grega a ter em conta. Primeiro, “meta”. Segundo, “odos”. Terceiro, “logos”.
“Odos” significa simplesmente que estamos perante um caminho ou um percurso
a desenvolver de acordo com determinadas etapas. E este caminho tem um propósito, um
objetivo, ou seja, uma “meta”. É este o significado de “método”. A componente “logos”
é adicionada para se referir à lógica, à razão. Não se trata apenas de seguir um caminho,
mas também de refletir sobre ele. O que nos permite falar de uma reflexão racional sobre
um percurso que tem um determinado objetivo.
Falamos em Metodologia Jurídica para referir o caminho comprometido com a
realização concreta do Direito. resta saber se este caminho é o mais adequado para chegar
à mais adequada realização do Direito.
Se efetivamente eu entender que a realização do Direito tem a ver com uma
projeção de uma ordem de validade, a metodologia há-de ser diferente se eu o entender
como um instrumento de conformação social.
Mas podemos acrescentar uma quarta componente na expressão “metodologia”,
da autoria do Dr. Bronze. É um neologismo que acrescenta “nomos”. Meto-nomo-logia
tem um sentido muito claro: identificar o método como o método da prática judicial, como
o modus operandi do juiz como o vemos hoje (“nomos”) - tem a ver com uma certa visão
da prática judicial, que a associa ao horizonte de validade do Direito.
Neste conjunto “metodologia”, Castanheira Neves pergunta qual é o sentido da
relação que deve existir entre o “logos” e a componente “meta + odos” e quais as possíveis
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 4
relações entre a reflexão e o método. Esta questão ajuda-nos, desde já, a revisitar a história
do pensamento jurídico.
Por um lado, pode simplesmente dizer-se que quando se reflete sobre o método –
e esta foi grande parte da atitude moderna (Descartes) – admite-se que há uma definição
prévia do que deve ser esse caminho, que é como que uma definição exterior. Define-se
um conjunto de exigências, independentemente das práticas, como um esquema
puramente pensado, autossubsistente. A partir daí, vou defender a posição de que se a
prática quiser ser racional, terá de seguir o esquema. A reflexão sobre o método é
orientadora da prática e, mais do que isso, conformadora da prática. É uma imposição ou
uma projeção. Dificilmente encontraremos, antes da Idade Moderna, discursos
autónomos sobre o Método Jurídico. São uma criação da Modernidade, embora pensados
desta forma. O julgador só estará a responder racionalmente ao caso se efetivamente
responder de acordo com aquele modelo que se situa fora da prática. É condição de
racionalidade da própria prática (das próprias práticas de decisão jurídica). É uma relação
marcada pela exterioridade construtiva. Era o velho sonho de dominar teoreticamente a
prática (aplicar a racionalidade das ciências analíticas à prática jurídica). Foi o grande
modelo do séc. XIX. Mas se assim fosse, a metodologia era um exercício estéril. Foi, no
entanto, a primeira tentativa de racionalizar (teoreticamente) a prática.
Há outros dois tipos de relação que nos levam a visitar outros momentos da
História do Direito Europeu.
Os juristas romanos e medievais não sentiram a necessidade de refletir sobre esse
método sequer, muito menos de o pensar antes da prática. Se a primeira atitude é de
exterioridade construtiva, esta é oposta. É a imanência constitutiva. É a própria prática
que vai forjando e aperfeiçoando o seu método. O contexto pré-moderno nunca sentiu a
necessidade de refletir autonomamente sobre o método.
Stanley FISH tem uma visão das práticas e dos discursos muito próxima dessa
referência a uma imanência constitutiva. É muito cético quanto ao interesse que pode ter
a interdisciplinaridade. Cada domínio da prática (advogados, juristas académicos, juízes,
etc.) vive com os seus próprios códigos. Aquilo que faz é uma experimentação em
concreto desses códigos, que vai evoluindo à luz de certos critérios. Realmente, estar a
refletir sobre o método a aplicar na prática é improdutivo. Cada comunidade interpretativa
utilizará os seus códigos, as suas convenções, que não são os das práticas em causa. Um
dos aspetos da realidade jurídica é constituído pelas comunidades interpretativas.
A questão que se coloca é a de saber se, hoje em dia, estamos em condições de
assumir qualquer um destes dois tipos de relação. A resposta só pode ser negativa. Temos
de evitar qualquer uma das atitudes. A nossa atualidade exige um outro tipo de relação
entre “logos” e método.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 5
A reflexão metodológica deverá procurar um tipo de relação logos-método
intermédio. Haverá seguramente que situar o problema na prática, mas dar espaço à
reflexão crítica. Assim, chamar-se-á a esta relação “reconstituição crítico-construtiva”.
A situação contemporânea não será, porventura, compatível com aquela solução
de imanência constitutiva. O modo como os diversos juristas vêm o sistema não é o
mesmo. A situação de pluralidade e fragmentação atual não deixa, ela própria, de afetar
as comunidades interpretativas. Se eu perguntasse, à luz dos cânones dos juízes, qual é o
esquema metódico deles, não encontraria, seguramente, uma resposta única. Mesmo
dentro da própria comunidade interpretativa, as visões diferem. Temos juízes mais
formalistas, juízes que se assumem como políticos ou têm em referência a economia. Há
diversas imagens que estão presentes, pois vivemos uma situação pós-paradigmática (o
paradigma normativista que dominou o séc. XIX). Temos várias perspetivas do próprio
Direito. Precisamente por isto, a relação entre logos e método não pode ser integralmente
prescritiva, desconsiderando a prática jurídica, mas também não pode ser meramente
descritiva, afirmando a naturalidade da prática judicial e pura e simplesmente ter em
atenção essa prática. Torna-se indispensável abrir a porta a um outro tipo de reflexão. A
reflexão metodológica, alem da componente descritiva, tem uma componente normativa
ou regulativa. Tem de haver este equilíbrio. Sendo realizável, deve corresponder a
determinadas aspirações e exigências do sistema judicial.
Que tipos de respostas é que nós encontramos no nosso contexto atual para o
problema da conceção do Direito? Não podemos explorar todas as respostas possíveis.
As grandes tendências do Pensamento Jurídico Contemporâneo sobre a compreensão do
Direito têm por base Castanheira Neves.
Podemos distinguir compreensões normativistas, funcionalistas e
jurisprudencialistas do Direito. São tendências complexas, longe de ser unívocas.
De uma forma muito simples, a conceção normativista é aquela que é herdeira do
discurso Moderno-Iluminista. É ainda hoje possível. Mas perdeu o estatuto de paradigma
ou de domínio. Vê no Direito um sistema, uma unidade de normas, que têm uma certa
autossubsistência racional. O Direito está nas normas. Obedece ao programa hipotético-
condicional. Os critérios jurídicos seriam nuclearmente normas que, na sua
autossuficiência racional, exprimiriam um tipo condicional e estabeleceriam a
consequência jurídica desse acontecimento. O Direito é pensado e constituído pelos
enunciados das normas, que aparecem autonomamente e racionalmente antes dos
problemas, antes da prática. Porque consideramos problemas concretos aplicam-se estas
normas. O Direito está pré-determinado em abstrato e aplicado na prática. É uma visão
normativista. Tem um entendimento da prática que, precisamente, vai procurar um
modelo teorético pré-determinado. Evidentemente, há várias conceções de
Normativismo. Mas este é o núcleo duro. O Direito é autónomo das ações e das decisões.
Pensa-se racionalmente em abstrato antes dos problemas.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 6
As conceções funcionalistas são radicalmente diferentes, sobretudo se tivermos
em mente as conceções funcionalista-pragmáticas. Construiu-se no nosso tempo. Parte da
ideia de que o Direito, tal como nos o compreendemos, deve ser tratado como um
instrumento de resposta às necessidades sociais. Faz parte da realidade social e a sua
tarefa é responder às expectativas e aos interesses que se manifestam. Precisamente
porque deve ser tratado como um instrumento, este Direito não terá autonomia. Ou seja,
não terá valores específicos. Será um instrumento pragmático, flexível, usado para
satisfazer as necessidades sociais que cada tempo e cada lugar convencionalmente
determinarem. É um mero regulativo sem exigências especificas de conteúdo. Trata-se de
pensar o Direito com fins de ordem política, económica, social, etc. Nesta compreensão,
desempenham um grande papel os critérios de eficácia e de eficiência. Importa saber os
efeitos que se produzem. E este pragmatismo tem uma enorme influência na prática. Basta
ver o movimento “law economics” nos EUA.
Uma terceira possibilidade vai-nos importar muito, pois a proposta de esquema
metódico defendida no final do curso assume o sentido desta terceira perspetiva. Designa-
se de “jurisprudencialista”. Do que se trata é, por um lado, preservar a exigência de
autonomia do Direito (afinidade com o positivismo). Só que o modo de pensar esta
autonomia é muito particular. Não se trata de um isolamento. Trata-se de dizer que o
Direito tem autonomia porque as respostas que vai dando aos problemas são orientadas
por certas aspirações e exigências de validade, certos valores (o que remete para o estrato
dos princípios jurídicos), que têm uma identidade específica. Não é uma validade que se
possa pensar como um isolamento formal. Designamos esta perspetiva de
“jurisprudencialista” porque ela procura pensar o Direito (autónomo) a partir da
perspetiva do caso. Assim sendo, as outras dimensões relevantes que constituem o sistema
jurídico vão ser mobilizadas numa dialética com esta perspetiva do caso. É um certo tipo
de racionalidade baseado numa dialética (reconstrutiva) entre problema-sistema.
Embora a perspetiva que vamos assumir na etapa final do curso tenha afinidades
fortíssimas com este jurisprudencialismo, é importante dizer que as outras perspetivas
não são rejeitadas.
Outra questão importante nesta introdução trata-se de saber qual é o campo
temático da Metodologia Jurídica. Porque falamos sempre no Método dos juízes e não no
Método do legislador, por exemplo?
Têm havido propostas que procuram refletir sobre o Método num sentido mais
global. O problema deixaria de ser o problema exclusivo do julgador para passar a ser o
problema de todos os operadores do Direito, começando inevitavelmente pelo legislador.
Seguramente que devemos dar atenção aos outros operadores do Direito que não
os juízes. São campos que efetivamente devem ser explorados.
Mas não é possível encontrar uma Metodologia Jurídica global ou integral.
Efetivamente, o modo como, pensando exclusivamente na legislação e na jurisdição, o
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 7
legislador constitui o Direito é um modo claramente distinto que corresponde ou deverá
corresponder à intervenção do julgador.
A Metodologia Jurídica foca-se (crítica: excessivamente?) na prática judicial. Para
se defender a possibilidade de um Método único, teria de sustentar uma tese de
continuidade discursiva entre legislação e jurisdição, e se quisermos, entre a doutrina e a
dimensão metadogmática. Dito de outra forma, uma tese de complementaridade
institucional entre a legislação e a jurisdição que, de um ponto de vista racional, se
mostrasse contínua. Havendo, poderia fazer-se esta reflexão metodológica.
Uma tese de continuidade discursiva defende uma complementaridade
institucional entre legislação e jurisdição, que se reflete num continuum racional, o que
significa que o tipo de racionalidade usado pelo legislador é o mesmo que o tipo de
racionalidade usado pelo julgador. A tese contraria, de descontinuidade, defende que são
modos racionalmente distintos de criação ou de constituição do Direito. Este contraponto
das duas teses importa porque a perspetiva jurisprudencialista aposta numa tese de
descontinuidade, sem prejuízo de reconhecer algumas pontes entre a legislação e uma
jurisdição.
No que diz respeito à tese da continuidade, é curioso ver que ela pode ser
explorada por vias muito diferentes. Uma formalista, muito próxima das abordagens
normativistas, cultivadas pelo discurso do séc. XIX. Mas uma das propostas
funcionalistas (Rans Albert), que assenta num pragmatismo tecnológico, é compatível
com a ideia de uma continuidade discursiva entre a legislação e a jurisdição. É importante
perceber já estas convergências e divergências. Fala-se na realização do Direito em
sentido amplo, de modo a abranger tanto a prescrição legislativa como a judicativa
decisão concreta.
As propostas normativistas são compatíveis com esta tese. Perante uma perspetiva
normativista, o Direito identifica-se com o conjunto de enunciados com certas
características e que obedecem a um certo programa condicional. O Direito existe em
abstrato. Criar Direito é inevitavelmente criar uma norma geral e abstrata. Não há outro
modo plausível de criar Direito. Depois, temos uma tarefa complementar, que é a
jurisdição, que projeta nos casos esta universalidade racional, sem a modificar ou
diminuir o seu impacto. Esta perspetiva, quando trata do problema da jurisdição, procura
compreender este modelo a partir das exigências do modelo lógico-dedutivo. A pretensão
é sempre que aquilo que o julgador deve fazer é oferecer uma complementaridade
decisiva ao legislador. «O juiz pronuncia as palavras da lei em concreto», já dizia
Montesquieu, sem acrescentar nada de relevante, porque todo o conteúdo jurídico está
pré-determinado e é autossubsistente. O ponto de partida do silogismo (o método do juiz)
nunca é o caso concreto. É a premissa maior, que é a norma. O caso concreto aparece no
momento da subsunção. A tarefa do julgador é a aplicação do Direito, preservando a ideia
de universalidade racional. É a mobilização da lógica formal. A tarefa da jurisdição é de
mera aplicação.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 8
Estas perspetivas formalistas, fiéis ao património iluminista, tendem a dizer que
quando estamos perante uma lei, o que a identifica como um critério jurídico é
precisamente a norma através da qual a lei se exprima. A lei no sentido jurídico só o é se
se exprimir numa norma geral e abstrata com hipótese e estatuição. É este o critério de
juridicidade. A visão de que o Direito está todo pré-determinado exige que a tarefa da
jurisdição seja de mera aplicação.
Mas é possível defender a tese da continuidade com base noutros argumentos,
partindo de uma conceção funcional de Direito (Rans Albert). Continua a falar-se de uma
continuidade discursiva entre a legislação e a jurisdição. Só que agora o tipo de
racionalidade já não é uma racionalidade teorética e muito menos uma racionalidade
logico-dedutiva. É uma racionalidade instrumental, que podemos dizer tecnológica, num
certo sentido, que permite sustentar que a legislação, quando atua, atua fundamentalmente
através de vários tipos de programas possíveis. Já não aparece marcada pelo programa
hipotético-condicional (“se… então…”). Hoje, a legislação aparece, para esta perspetiva
de engenharia social, pensada à luz de programas finais, que significa que, quando
estamos perante uma prescrição legislativa, é uma escolha estratégia de determinados
objetivos a atingir e de meios que se consideram funcionalmente adequados para a
prossecução daqueles objetivos. É, no fundo, um programa finalístico. É necessário uma
escolha precisa quanto aos fins e uma escolha menos precisa quanto aos meios adequados
para tais fins. Muitas normas introduzidas no Estado Social funcionam nestes termos.
Esta dimensão programática já não é baseada no modelo da hipótese e da estatuição. É
um modelo finalístico. A jurisdição já não tem uma tarefa de mera aplicação, muito
menos, de aplicação logico-dedutiva. Há aqui uma analogia interessante: se o legislador
é o estratega, faz as suas escolhas, que se projetam sobretudo nas políticas sociais,
pensadas e determinadas por argumentos de explicabilidade científica e de realidade
social, o julgador deverá ser um tático desse estratega. Há uma complementaridade entre
o legislador e o julgador, reconhecendo que, se a estratégia é delineada antecipadamente,
a tarefa do julgador é executar essa escolha (é como que um administrador). Tem a tarefa
de, no terreno, perante os casos concretos, executar a estratégia, ou seja, de a maximizar.
Trata-se de atingir eficientemente os fins pré-determinados pelo legislador. Significa que,
embora sendo tarefas diferentes, são complementares e alimentadas pelo mesmo tipo de
discurso e racionalidade. Há, neste sentido, uma aproximação entre as decisões
legislativas, as decisões judicias e as decisões administrativas, embora localizando-se em
patamares diferentes. Quanto ao julgador, fala-se aqui já num paradigma de “decisão” e
não de aplicação. Nesta ordem de ideias pode defender-se uma Metodologia Jurídica
global.
Quanto à tese da descontinuidade, defende-se que o legislador e o juiz
desenvolvem modos distintos, inconfundíveis de criação ou constituição do Direito.
Contribuem de maneira muito diferente, mesmo no plano racional. Quando se fala da
expressão preferida do Dr. Bronze, metonomologia, pretende-se identificar o modus
operandi do juiz.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 9
Hayek distingue claramente, no Direito Moderno, o Direito como nomos e o
Direito como thesis. O nomos é o Direito da liberdade e a thesis é a lei. Esta tese de Hayek
exige claramente alguma clarificação. Mas é uma oposição que acentua a tese da
descontinuidade. O Direito que é assumido pela jurisdição é um Direito diferente prescrito
pela legislação. Este último é um Direito convencional, sustentado em escolhas e
programas de fins. o Direito que a jurisdição assume é, pelo contrário, um Direito que
aparece referido a uma ordem de valores e de aspirações. O Direito enquanto prescrição
dirige-se diretamente à ação, pretende ser para esta uma regra através de enunciados
linguísticos imperativos e objetiva-se globalmente como ordem e norma de ordenação e
de determinação. Enquanto que na sua realização decisória, o Direito dirige-se já a casos
(problemas concretos), para os quais será fundamento e critério normativo-judicativos
segundo um sistema de normatividade dogmaticamente vigente e objetiva-se também
globalmente como ordem e norma de validade e de valoração. Num caso estamos perante
o direito como thesis (sistema de regras político-sociais de organização) e no outro
perante o direito como nomos (normatividade de uma validação a manifestar-se em
“normas de decisão”).
O julgador não deve estar simplesmente a aplicar a lei, nem deve ser um tático.
Deve levar a sério as exigências do próprio Direito. o que significa que, estando ele
vinculado às prescrições legislativas, elas têm de ser experimentadas nessa ordem do
nomos. Porém, a construção de Hayek tem aspetos muito discutíveis. Daí que chamemos
outros argumentos para a tese da descontinuidade. Podemos fazer um confronto com a
perspetiva normativista. Para esta última, quando falávamos de lei, expressa numa norma
geral e abstrata, expressão da vontade geral (Rousseau), há aqui uma perspetiva muito
forte, que sustentou o Iluminismo, que procura a pureza jurídica da lei (universalidade),
já que o critério jurídico por excelência.
A questão que hoje se coloca é a de saber se quando estamos a considerar uma lei,
a podemos identificar como um critério puramente jurídico. Evidentemente, a resposta é
negativa. Hoje, sabemos que as prescrições legislativas admitem sacrificar a sua
universalidade racional e, sobretudo, é evidente, na nossa experiência, que a lei é
reconhecida como uma manifestação do sistema jurídico e do sistema político. Na
conformação da lei intervêm, claramente, intenções político-sociais, dimensões
ideológicas. Estamos muito longe da visão iluminista que reconhecia a lei como um
critério integralmente jurídico. As leis são construções que obedecem a compromissos
político-ideológicos. O papel da legislação e o papel da jurisdição sofreu, assim,
alterações.
Há aqui que reconhecer que o papel da jurisdição não é nem deve ser reconhecido
com um papel complementar. Ela deve ser responsabilizada pela preservação da
autonomia do Direito (ao passo que na tese da continuidade discursiva, esse papel cabe
apenas à legislação). Sempre que defendo esta descontinuidade discursiva, estou a
perceber a identidade político-social da legislação. À legislação deve associar-se a tarefa
ou a manifestação de objetivos públicos. É uma antecipação programática de políticas
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 10
sociais. Assim, o que se espera da jurisdição é que ela esteja em condições de defender
arguments of principles, assumir uma certa comunidade de princípios que sustentam a
validade do Direito, estando a contribuir para um Direito autónomo. Os papeis da
legislação e da jurisdição são absolutamente importantes, mas não complementares.
Esta diferenciação que se faz tem já a ver com a diversidade de intencionalidades
decisivas. Pois não podendo deixar de sustentar-se que a prescrição legislativa só é
suscetível de ser vista como uma manifestação de normatividade jurídica porque atua no
quadro de validade do Direito e respeitando-a. Mas a legislação assume uma
intencionalidade e funcionalidade políticas e político-sociais que a diferenciam da estrita
realização do Direito. A função legislativa é caracterizada por uma especifica autonomia
juridicamente constitutiva, enquanto a função judicativo-decisória concreta tem uma
índole normativo-juridicamente vinculada, em termos de poder dizer-se que na prescrição
legislativa se afirma uma “elaboração criadora” e no juízo decisório uma “elaboração
reconstrutiva” do direito. O determinante objetivo da legislação é o de definir mediante o
Direito ou normativamente uma estratégia política e prescrever uma programação
político-social. Daí o carater “instrumental” unanimemente reconhecido à legislação do
Estado-providência do nosso tempo. É ilusório ver na legislação o cumprimento de uma
função puramente jurídica e não aquilo que ela realmente é: uma atividade de sentido e
intenção estratégico-programaticamente político-social, e assim bem distinta da atividade
de afirmação em concreto da validade do Direito, mediante juízos normativos de decisão
de controvérsias ou conflitos prático-jurídicos.
Não estão excluídas algumas relações de continuidade possíveis entre as tarefas
da construção legislativa e da construção judicial, mas, no fundo, haverá que, como tese
principal, sustentar uma descontinuidade. As tarefas não devem ser pensadas à luz do
mesmo Método.
Assim, distinguimos rigorosamente o Método Jurídico legislativo e o Método
Jurídico dos juízes e os respetivos critérios (que não poderão ser usados da mesma
maneira).
A questão metodológica atinge o seu fim numa concreta decisão judicativa ou
num juízo decisório.
O juízo, que constitui o núcleo de realização do Direito, implica um discurso e
necessariamente raciocínios.
O discurso é uma mediação estruturada do pensamento ou uma articulação
intencionalmente unitária entre sucessivos elementos do pensamento. E o raciocínio é o
elemento conducente do discurso: é aquele elemento que opera com base em relações
lógicas de algo a algo e permite, desse modo, obter conclusões.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 11
Já a decisão, strito sensu, é a opção resolutiva que a si própria se afirma ou impõe.
Nesse sentido, é originária da vontade e, assim, se postula desvinculada quanto ao
conteúdo e a qualquer pré-determinação. A decisão jurídica manifesta uma voluntas
autoritária ou impositiva.
O juízo jurídico tem a função de reconduzir a decisão necessária à fundamentação
exigível. O certo é que nem por isso se poderá pensar em eliminar de todo a decisão para
se afirmar exclusivamente o juízo. Não só porque, tratando-se na decisão jurídica de uma
decisão vinculante manifesta ela decerto um poder que, como tal, não se aferirá
estritamente por uma qualquer racionalidade, mas ainda porque a decisão enquanto tal
não poderá nunca ser totalmente reduzida racionalmente. Tanto é dizer que o juízo sempre
será sustentado por uma decisão.
Nestes termos, a decisão jurídica da realização do Direito é verdadeiramente
decisão judicativa.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 12
II. O problema do tipo de racionalidade num contexto dominado
pela pluralidade das razões
Será agora conveniente atender às possíveis racionalidades jurídicas hoje em
alternativa e entre as quais teremos de optar na própria definição do método do juízo
decisório.
O tema da racionalidade é um dos temas mais complexos e controvertidos da
nossa atualidade, embora só nos interesse aqui a racionalidade jurídica e especificamente
a racionalidade metodológico-jurídica convocada para a realização do Direito.
Em Ética a Nicómaco (Capítulo VI), ARISTÓTELES apresenta aquilo a que
podemos hoje chamar uma base para os diferentes tipos de racionalidade: as virtudes
intelectuais (especificadamente, sofia, theoria, nous, phronesis, poiesis, etc.). Dentro
deles, distingue-se entre as que colocam o sujeito perante um objeto exterior – numa
atitude contemplativa (racionalidade teorética) – e as que autonomizam, em termos
próprios, uma prática firmada entre sujeitos (racionalidade prática).
Podemos convocar três modalidades básicas de racionalidade:
Racionalidade
Racionalidade Racionalidades Racionalidades
instrumental-
lógico-formal teoréticas práticas
estratégica
Cognitivista-especulativa e Tópico-retórica, Hermenêutica e
Teorético-explicativa Narrativa
1) A racionalidade de pura discursividade ou de exclusiva relação entre
proposições num modo de inferência necessária entre elas, segundo regras que exprimem
uma estrutura estritamente sintática, e cuja validade se afere pela mera compossibilidade
entre esses elementos proposicionais. É a racionalidade puramente lógica ou do discurso
lógico.
2) A racionalidade de um discurso de referência objetiva, mediante uma
relação ou esquema sujeito/objeto, que por isso se poderá dizer “teórico” (teoria =
contemplação), e com uma validade que se pretende medir pelo próprio objeto referido,
isto é, pela correspondência à realidade que o objeto postula. Com três subtipos de
discursos, todavia:
a. O discurso que se tem pela racionalidade das próprias coisas ou
pela explicação da realidade objetiva (transcendente) em si, se não o espelho (speculum)
discursivo dela e que por isso se dirá discurso intelectual ou puramente especulativo. É o
discurso da racionalidade em que a validade se identificaria com a verdade.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 13
b. O discurso de construções racionais de universalidade explicativa
ou teorias: onde cada elemento objetivo referenciado encontra a sua razão de ser ou
fundamento explicativo em outros elementos objetivos segundo uma certa conexão e no
todo da conexão que se concebem universais e assim necessários para todos os elementos
objetivos da mesma natureza. E de uma validade que terá o seu critério fundamentante e
crítico numa experiência objetiva invocável numa intenção de comprovação (seja em
termos positivos ou de verificação, seja em termos negativos ou de falsificação –
POPPER), mediante determinadas regras ou processos metódicos definidos e aceites pela
comunidade de investigadores. É o discurso teórico-explicativo de índole empírico-
analítico e procedimental da ciência moderna. As teorias são universais hipóteses
explicativas e metodicamente comprovadas e a explicação será a inferência dedutiva
dessas teorias, como explanans, para um concreto particular explanandum que se
apresenta em certas condições de facto. É um discurso racional em que a validade é uma
validade cognitiva, que acaba por sustentar-se num modelo processual ou procedimental
de construção (teórica) e de comprovação (empírica).
c. O discurso que se mantém numa referencia objetiva à realidade,
mas em que esta é apenas considerada como condição e possibilidade para a consecução
de certos fins propostos ou programados, segundo uma relação funcional (função-efeitos)
ou o esquema técnico (meio-fim), e no qual a validade é adequação funcional ou aptidão
instrumental e a racionalidade eficiência ou eficácia – é o discurso funcional ou
instrumental e de uma racionalidade funcional técnico-finalística.
3) Como terceiro tipo de racionalidade temos o que não se limita à
compossibilidade (lógica) e não se realiza numa referência objetiva e sim numa atividade
comunicativa, numa relação entre sujeitos segundo o esquema sujeito/sujeito. Manifesta-
se ela num discurso argumentativo, numa troca comunitária e dialógica-dialética de
argumentos. Visa a validade em sentido prático ou estrito, que é a fundamentação ou
justificação comunicativas. Trata-se da racionalidade prática, em que vai excluído o
absoluto e o impessoal e antes afirmado o histórico-concreto e a intencionalidade
pragmática. Também esta racionalidade pratica conhece possíveis diferenciações:
a. Duas delas encontram expressão na dicotomia (e alternativa) de
“racionalidade axiológica” e de “racionalidade finalística”.
b. Outras diferenciações relativas ao tipo da racionalidade prática são
sistematizáveis por uma segunda dicotomia: a da racionalidade pratica de sentido
substancial ou material e a da racionalidade prática de sentido processual ou formal.
Racionalidade lógico-formal
A chave deste discurso, de mera discursividade lógico-formal, reside na relação
lógica entre as proposições que estão envolvidas, sem quaisquer referências exteriores.
Assenta numa lógica estritamente formal e autossubsistente, que perspetiva as
premissas estabelecendo entre elas relações necessárias (procurando dar a conhecer regras
gerais para várias relações proposicionais de um mesmo tipo); podemos, pois, falar num
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 14
discurso lógico-dedutivo, centrado na simples compossibilidade formal de proposições.
Certo é que a racionalidade lógico-formal tem origem, particularmente no seu
acolhimento jurídico, com raiz nas exigências do racionalismo científico. Porém, a
racionalidade lógico-formal não pode ser entendida como racionalidade teorética hoc
sensu, como racionalidade objetiva: já referimos que não há aqui uma atitude
verdadeiramente contemplativa, antes a ausência de qualquer referência a uma
exterioridade (o que nos distancia, sem dúvida, do domínio propriamente teorético).
Esta é a racionalidade paradigmática no positivismo normativista, de que cabe
recordar dois momentos:
• Jusnaturalismo Racionalista (ou jusracionalismo) do séc. XVII (célebres
autores como PUFENDORG e WOLFF). Teve a intenção de nos expôr o “Direito natural
racional”, que não seria mais do que um conjunto de princípios e normas que, todos nós,
enquanto sujeitos racionais, deveríamos e poderíamos conhecer. É, portanto, um Direito
que a Razão conhece. São critérios impressos na nossa qualidade de sujeitos racionais. A
lógica desta racionalidade assentava exatamente na perfeição e consistência do Direito
(já que ele era deduzido do Direito Natural Racional).
• Método Jurídico do séc. XIX, o silogismo subsuntivo, que parte da ideia
de uma passagem lógica (materialmente neutra) do Direito dado ao caso concreto. Se o
Direito está pré-determinado o julgador limitar-se-á a enquadrar o caso na hipótese
prevista, aplicando-lhe a estatuição prescrita na norma, tomando-se como certo que este
Método Jurídico, científico e rigoroso, não pode permitir ao juiz criar premissas (nem
sequer acrescentar às premissas que lhe são apresentadas). Por ele, apenas se garante a
efetividade do Direito positivo.
É claro que este tipo de racionalidade, no campo da Metodologia Jurídica, não
permite valorar nem dar conta das especificidades dos casos em concreto. Mas não se
nega que os discursos jurídicos também devem utilizar regras da lógica, de modo a que
sejam consistentes. O que não podemos defender é que o Método jurídico seja baseado
nas regras da lógica formal. As decisões concretas não se obterão a partir do silogismo
logico-subsuntivo.
Racionalidade teorética
O esquema dado pelo positivismo formalista, de racionalidade lógico-formal,
aproxima-se de uma atitude teorética. Já a racionalidade objetiva, que parte de um
esquema sujeito-objeto, implica uma atitude contemplativa – estamos no campo da
racionalidade teorética.
Aqui é proposta uma reflexão entre os prolatores do discurso e uma realidade
exterior. O que significa que temos uma correspondência entre o discurso e uma
exterioridade, ou seja, com uma verdade, um objeto.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 15
A validade é aqui aferida pelo próprio objeto, pela sua correspondência ao
discurso.
Este discurso tem sido manifestado de duas formas: racionalidade especulativa e
racionalidade
Racionalidade Cognotivista-especulativa
Este discurso assumiu grande destaque no pensamento jurídico ocidental. É o
discurso especulativo (speculum = espelho), que associamos à virtude intelectual da sofia,
na linha aristotélica.
O grande momento histórico desta racionalidade situa-se no jusnaturalismo pré-
moderno, isto é, clássico. Considerava, numa estrutura sujeito-objeto, o Direito é
transcendente ao Homem, é uma ordem indisponível, universal e imutável.
Aqui, o esquema metódico passa por uma abordagem dos princípios e dos valores
como puras realidades ontológicas ou metafísicas. Baseia-se naquela atitude de
contemplação. Leva as exigências do dever-ser tão a sério que é como se elas fossem
entidades que eu posso efetivamente conhecer, por uma via metafísica. E isto é assim
porque os valores e os princípios fazem parte da própria Natureza das coisas. Não são
produto da cultura e vontade humanas. O sujeito tem a tarefa de os conhecer e de mostrar
quais são. Cumpre-se com uma intenção puramente cognitiva.
Ainda hoje temos perspetivas jusnaturalistas, obviamente com dificuldade de se
imporem no nosso tempo, já que atualmente se entende que os valores e os princípios
estão sujeitos a evoluções históricas significativas.
Racionalidade teorético-explicativa
Este discurso acentuou a virtude intelectual da episteme, que, na linha aristotélica,
era a virtude do conhecimento científico sobre a realidade.
A diferença fundamental relativamente ao anterior é aqui se procura descrever e
relacionar os fenómenos físicos (e já não metafísicos). Estão em causa agora factos
efetivamente suscetíveis de serem contemplados e, sobretudo, experimentados. Estamos,
claramente, na linha do conhecimento científico-natural (autores célebres como BACON
ou GALILEU).
Procura-se conhecer as relações causais entre fenómenos, sendo a descrição deles
uma tentativa de investigação direcionada ao estabelecimento de ligações. Estas ligações,
empiricamente detetadas, seriam formuladas numa tese ou teoria, que explicaria os
fenómenos futuros.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 16
Assim, promovia-se um método dedutivo: a comprovação após a experimentação;
e um método indutivo: com base na teoria explicativa, previsão de motivos para
determinado resultado.
Este tipo de racionalidade, no campo jurídico, assenta na possibilidade de o juiz
qualificar os problemas e induzir soluções, com base na “teoria” vigente que é o Direito.
Tudo o que fosse rutura doutrinal, jurisprudencial ou legislativa equiparar-se-ia a uma
mudança de opinião científica, conduzindo a uma nova “teoria”, por melhor explicar o
“fenómeno”.
Já no séc. XX, POPPER questionou o próprio método da indução com alusão ao
seu falibilismo. Dizia que a comprovação por experimentação não era suficiente. Então,
defende que o que a ciência deve procurar é uma não comprovação, ou seja, a falsificação
das teorias, dando lugar a novas leis científicas. O que a ciência deve fazer é procurar pela
negativa incessantemente fenómenos individuais que ponham em causa as hipóteses
dadas como adquiridas. É um exercício de falsificação.
Vimos que esta preocupação em cruzar o Direito com a ciência, ao longo da
história do pensamento jurídico europeu, teve momentos particularmente conhecidos.
Mas, de facto, a tentativa mais sistemática, mais forte e com maior êxito foi, com certeza,
aquela levada a cabo pela ciência do Direito sec. XIX.
No entanto, reparemos que essa ciência dogmática do Direito, construída no
Positivismo conceitual, construiu-se, certamente, orientada por uma intenção de episteme,
mas se virmos com atenção damo-nos conta que o seu objeto é insólito – não são factos,
nem fenómenos. Não são as decisões ou os comportamentos. O objeto é constituído por
normas. A ciência do Direito do séc. XIX dedica-se às normas, com uma determinada
estrutura e determinadas características. No fundo, essas normas aparecem como
enunciados dispersos e plurais, principalmente na Alemanha. Não é uma ciência
estritamente empírica. É sobretudo analítica. Como as normas têm em comum a
fragmentação com os fenómenos científicos, os juristas têm de trabalhar essas normas,
para que os tribunais superiores construam os conceitos. É uma ciência analítica. É como
se o Direito estivesse nas normas. É esse o fenómeno que vai ser conhecido.
Isto não vai ser sempre assim, porque no final do sec. XIX surgiram variadas
tentativas para que o Direito se constituísse como ciência, mas não analítica; sim
empírica. Até nos nossos dias existem Escolas a defender a exploração da ciência do
Direito numa certa perspetiva empírica (a realidade dos comportamentos e das ações).
Racionalidade instrumental-estratégica
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 17
Esta racionalidade é associada à virtude intelectual da poiesis, que significa a
criação de artefactos autónomos do seu criador, e à episteme, significando assim a
habilidosa mobilização de conhecimentos científicos sobre a realidade, prosseguindo
determinados fins. No fundo, é a produção de efeitos pensados e projetados. O que
redundou no corolário da racionalidade instrumental-estratégica.
O primeiro problema deste tipo de racionalidade é a sua classificação como uma
racionalidade teorética ou prática.
CASTANHEIRA NEVES entende que não é puramente teorética, embora parta
de algumas premissas reflexivas, mas autonomamente finalística. Mas, por outro lado,
não é verdadeiramente prática. AROSO LINHARES evoca aqui um tertium genus, que
há-de beneficiar de uma perspetiva muito própria.
Este discurso finalístico-funcional, num plano jurídico, determina-se num
esquema racional de dois degraus.
Em primeiro lugar, o degrau da relação instrumental, que se definem os fins a
prosseguir, afetando certos meios que se apresentam (ou não) como racionalmente aptos
a atingir tal meta.
Em segundo lugar, o degrau da relação estratégica. Já estruturada aquela relação
de meio e fim, há que a tornar efetiva através de uma escolha do meio que se revele o
mais eficiente (ou seja, o mais apto com menores custos).
Esta esquematização foi absolutamente determinante no universo do Direito,
desde logo, no exercício do poder legislativo – a definição de planos legislativos,
associada às leis-medida e às leis-tarefa – onde tal raciocínio é indispensável.
Este encontro entre este tipo de racionalidade e o Direito tem uma expressão
enorme no pensamento e obra de HANS ALBERT, que constrói uma ideia de Direito
como uma engenharia social, o que implicaria uma Metodologia Jurídica Global. O juiz
seria um tático, vinculado a uma serie de estratégias legislativas. Seria transformar o juiz
numa longa manus do legislador-estratega.
Tudo começará no legislador e nas suas estratégias. Discutem-se depois, à luz das
ciências, a sua realizabilidade e explicabilidade. Por exemplo, se se admitir que, para
potenciar a cientificidade da prova jurídica, pode ser benéfico privar as testemunhas das
suas defesas conscientes nos interrogatórios, a perspetiva de ALBERT não passa por
ponderar os limites axiológicos desta medida e sim ponderar a explicabilidade científica
(do género: será que essas substâncias medicamentosas – o soro da verdade -
funcionam?). Não se trata de avaliar o mérito material da solução. Trata-se de avaliar a
explicabilidade científica dessa solução. O limite são as próprias informações da ciência.
Para este autor e nesta perspetiva, o Direito já não se devia servir de noções como “culpa”
ou “autonomia”, dado o contexto científico atual.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 18
FRANÇOIS OST, que estudou as várias imagens do juiz que se foram sucedendo
ao longo da História, apresenta nesta perspetiva estratégica, o juiz como um mero tático,
um administrador ou empreendedor, com a preocupação fundamental de maximizar as
estratégias do legislador.
Racionalidades práticas (autêntica ou tout court)
Vê-se aqui presente uma lógica conversacional (racionalidade estruturalmente
dialógica), de argumentação, num esquema sujeito-sujeito. É um plano em tudo distante
do formalismo lógico do positivismo oitocentista, bem como de uma intenção de
conhecimento contemplativo, que identificámos nas racionalidades teoréticas, sobre um
esquema sujeito-objeto, e ainda da pura acentuação de uma techné funcionalizante, como
vimos na racionalidade instrumental-estratégica.
Avançando assumidamente para o domínio da phronesis (a prudência aristotélica:
a capacidade estabilizada de responder a problemas humanos e tendencialmente
concretos), com uma praxis em sentido próprio, este esquema de diálogo sujeito-sujeito,
reportado à dialética e à argumentação, dita que a solução dada pelo juiz provirá da hábil
mobilização argumentativa dos vários materiais jurídicos que o sistema fornece.
A dialética aparece como uma disciplina associada a outras duas na formação do
jurista e do prático em geral: a tópica e a retórica. A dialética é a logica do provável ou
verosímil. Para poder ser verdadeiramente um discurso racional precisa de pressupostos
ou referentes. Estes referentes, sobretudo os valorativos, eram designados por “topoi”,
que eram aqueles lugares comuns, aqueles padrões partilhados pela maioria. Eram os
valores comuns, procurados pela “tópica”. Assim, a dialética deve sustentar-se na
“tópica”. Mas, ao mesmo tempo, esta dialética também tinha outra projeção importante:
sendo uma lógica de probabilidade ético-cultural, projetava-se numa “retorica”, que
preserva a identidade da dialética. A retórica vai preocupar-se em tornar os seus
argumentos comunicáveis em função do auditório/publico.
No panorama iluminista rejeitou-se ou desacreditou-se a hipótese de construção
prática (de matriz clássica), recuando-se a uma necessidade de fundamentação da prática
na teorética, num plano puramente epistémico e numa relação de exterioridade
constitutiva e prescritiva entre o método e o logos. A retórica deixou de estar associada
ao Direito, que passou a ser, no contexto Moderno, dominado por uma ideia de
cientificidade, que rejeita a dialética e a retórica.
Na segunda metade do século XX, porém, um novo relevo foi dado a estas
perspetivas, a que se chamou “reabilitação da filosofia prática” (grande autor: RIEDEL),
revigorou este discurso de reflexão inscrita na própria prática, insistindo numa
fundamentação racional no discurso da phronésis.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 19
Sendo a phronésis a sabedoria prática, a prudência, o discurso sobre as coisas
mutáveis, o Direito não podia deixar de ser atingido por este tipo de racionalidade, já que
se dedica a ações e decisões em concreto.
A racionalidade prática teve, essencialmente, três vias: a racionalidade tópico-
retórica, hermenêutica e narrativa.
Racionalidade tópico-retórica
Uma primeira via, a da tópica, situou o percurso no problema concreto, ou seja,
a resposta ao caso concreto vai desenvolver-se sempre na perspetiva do caso (autores
como PERELMAN, VIEHWEG, TOULIM), permitindo uma abordagem antiformalista
e argumentativa. É um caminho que acentua, como prius (ponto de partida), o problema
concreto.
Partia-se de dois pontos essenciais: a consideração do sistema como um catálogo
de materiais jurídicos (os seus estratos) enquanto topoi e ferramentas equivalentes na sua
vinculação; e a articulação dos argumentos da controvérsia concreta. Será a perspetiva de
cada caso que permitirá estabelecer a resposta do sistema jurídico, tentando compreender-
se qual a solução consensual que resultaria daquela argumentação e propondo-a como
decisão.
Há aqui logo um confronto com o discurso científico: quando estamos perante um
problema no contexto da prática científica, é um problema de resistência, que exige
explicação (que pode levar a uma falsificação da hipótese de regularidade, na linha
POPPERIANA). O problema relevante do ponto de vista da ciência é o ponto de partida,
mas ele é assimilado pela produção dos enunciados que constituem o “explanando”. A
diferença em relação à prática é que o problema nunca é assimilado: só o é quando é
solucionado. Durante todo o percurso de tratamento racional, o problema deve manter a
sua prioridade. Para a tópica, o problema é o ponto de partida e a perspetiva. Estamos
sempre a interrogar a realidade e, porventura, os próprios referentes (os tais lugares
comuns) e esta interrogação é feita sempre na perspetiva do problema.
Nesta realização da tópica, há uma dificuldade, reconhecida na segunda metade
do séc. XX: no contexto pré-moderno, embora tivéssemos uma série de critérios
associada, eles tinham sempre uma fundamentação última em valores indisponíveis e
necessárias. Era como uma referência tranquilizadora a uma ordem de validade não
construída pelo Homem. O grande desafio da racionalidade prática é que já não há o
mesmo apoio. Esta reabilitação da filosofia prática vai viver com uma ideia forte de que
os próprios valores, os próprios referentes axiológicos, podem e devem ser tratados como
obras humanas (subjetividade intencional) e, que por isso, como tal vão evoluindo.
Aquela referência tranquilizadora deixa de existir. Por exemplo, se pensarmos num
princípio, ele não tem o seu conteúdo pré-determinado; é evidente que há certas
exigências básicas, mas no fundo essas exigências fazem sentido porque têm uma
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 20
intenção de realização, isto é, orientam praticas. O princípio do caso julgado é um
contexto que orienta a prática processual. Orientam as nossas práticas, mas o conteúdo
vai ser circularmente moldado por essas práticas. Não se define o conteúdo, a substância
do princípio. Nem seria possível. É uma prática que enriquece a própria prática. Basta
pensar na evolução do princípio da legalidade criminal ou do princípio da igualdade.
A racionalidade prática, sendo um pensamento sujeito-sujeito, está sempre
sustentado nesta circularidade. E isto acontece, na verdade, com a perspetiva tópica.
Mas há aqui uma nota importante na projeção da racionalidade prática no Direito:
referencia à própria estrutura da controvérsia jurídica. Os sujeitos com legitimidade e
autonomia como pessoas jurídicas para afirmar a sua diferença constituem a controvérsia,
exatamente por causa dessa sua diferença quanto a situações da vida, através de
argumentos e contra-argumentos. Realmente, o universo do Direito permite que as partes
da controvérsia invoquem as mesmas normas e os mesmos princípio, sito é, o mesmo
Direito vigente para sustentar posições distintas. Todo o percurso racional se vai
desenvolver através das exigências do princípio do contraditório. A racionalidade prática,
nesta via tópica, traduz-se neste percurso de discussão, de troca de argumentos. O modo
como acentua a prioridade do problema leva também a entender que é a própria discussão
dos argumentos a autêntica instância de controlo da racionalidade. Os argumentos são
desenvolvidos com determinadas regras e a resposta vai ser obtida através de processos
de convencimento racional, como se a solução estivesse na própria discussão. É um
processo integralmente dialógico.
E nós agora, podíamos perguntar: será que a racionalidade jurídica, quando
pensada associada ao modus operandi do juiz, é uma pura racionalidade tópico-retórica(-
argumentativa)? A resposta é negativa.
Na linha de CASTANHEIRA NEVES, formulam-se importantes críticas a esta
proposta. Em primeiro lugar, uma conceção como esta, insensível a um sistema
verdadeiramente estratificado, tenderá a tomar a discussão em termos puramente
argumentativos, como se a pura argumentação fosse decisiva no juízo-julgamento,
apostando-se num consenso a priori. Ao fim e ao cabo, desvaloriza-se o sistema enquanto
ordem em sentido próprio. Sendo a discussão assumida como a instância principal de
controlo, parece que o objetivo da argumentação é o consenso como uma adesão
intersubjetiva, a posteriori e contingente. Esta acentuação do consenso é uma ideia que
pode ser diretamente posta em causa pela nossa compreensão do discurso jurídico, desde
logo, porque falta introduzir o papel do terceiro. O julgador não pode ser um mero arbitro
ou mediador. Esta identidade tópica de acentuação do consenso poderá ser sustentada
para certas modalidades alternativas de obtenção de soluções (meios extrajudiciais), mas
não para o Método Jurídico que queremos estudar. O núcleo do juízo decisório é
preenchido por uma intervenção do julgador. Aliás, o juízo decisório nem sequer tem de
corresponder à posição de qualquer das partes. Ele é cumprido em nome do Direito,
através da mobilização dos referentes axiológicos. Esta referência ao consenso e ao seu
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 21
carater contingente traz consigo uma outra nota diferenciadora: quando defendo uma
perspetiva tópica, eu tendo a dizer que os estratos do Direito Vigente, à partida,
independentemente dos problemas, são equivalentes. Há-de ser o prius o problema
concreto que vai permitir estabelecer o equilíbrio entre os critérios e fundamentos. É uma
perspetiva fortemente casuística, que cataloga o próprio Direito. Esta acentuação poe em
causa um dos aspetos mais importantes da racionalidade jurídica: a pluralidade de estratos
do sistema jurídico, que beneficiam de presunções de validade distintas. À partida, as
dimensões do sistema não vinculam da mesma maneira. Não podemos mobilizá-las como
se fossem topo-equivalentes, como se fosse a experiência do caso a relativizar as suas
posições.
Em segundo lugar, a argumentação obedece a certas regras de procedimento, o
que significa que, no desenrolar deste raciocínio, se passa de uma racionalidade material
a uma racionalidade procedimental, pois aquilo que passa a fundamentar um juízo-
julgamento válido é a simples prossecução das regras procedimentais.
Haverá seguramente componentes no discurso que o juiz constrói que têm uma
índole tópico-retórica. No entanto, há fortes objeções a que possamos considerar o
discurso do juiz como integralmente tópico-retórico.
Há uma acentuação excessiva da perspetiva do problema.
Racionalidade Hermenêutica
A segunda via de racionalidade prática é a que se designa de racionalidade
hermenêutica. Esta proposta foi avançada pelo movimento da “nova hermenêutica”,
intensamente ligado a GADAMER.
Acentua-se que a racionalidade prática não deve estar centrada no que fazemos ou
devemos fazer, mas antes naquilo que acontece connosco na relação com os outros e com
as coisas. Tem a ver, então, com a determinação de sentidos objetivados através de textos
(em sentido amplo). Essa assimilação da racionalidade pratica poe-nos perante a nossa
condição de sujeitos que se reconhecem a si próprios como limitados ou finitos (o que
significa que temos consciência do infinito ou do todo).
A preocupação da hermenêutica como filosofia é procurar mostrar que a nossa
atitude mais imediata (perante as coisas e os outros) não é a atitude que a ciência cultiva:
é a compreensão (e não uma descrição ou explicação). O que a hermenêutica pretende é
reconstituir as condições de que depende esta compreensão e esta conversação
responsável, no plano filosófico.
E compreender significa interpretar, partindo de certas pré-compreensões.
Enquanto sujeitos somos socialmente condicionados por uma herança de tradição, mas
também por esquemas passados. É uma lógica circular que acentua as pré-compreensões
na praxis momentânea. Há aspetos da hermenêutica como filosofia que podem facilmente
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 22
ser convertidos num método, embora possa ser duvidoso. Quando compreendemos,
compreendemos sempre a partir de uma situação, que é a nossa situação histórica. A
determinação do sentido desse texto que nos está a ser comunicado vai estabelecer uma
conexão decisiva com a nossa situação hermenêutica. Compreendemos sempre nos
inserindo numa situação. GADDAMER admitiu poder dizer que quando se está numa
certa situação se está sempre a partir de uma pré-compreensão. Não se vai dirigir ao texto
esvaziando-se dos seus valores. É inevitável e constitutivo da própria compreensão.
Significa isto que o sentido que se atribui ao texto resulta de uma conversação
responsável com esse texto. O sentido não está integralmente objetivado no texto; vai ser
reconstituído numa relação circular – convocação da ideia do “círculo hermenêutico”.
Nenhum texto admite uma leitura em absoluto. O processo interpretativo começa com
essa pré-compreensão. No fundo, toda a interpretação será uma reconstrução. Aqui a
dialética é entre o leitor (que parte de uma situação hermenêutica) e o próprio horizonte
em que o texto se integra.
Mas o que acontece é que, na verdade, quando se projeta a hermenêutica no
Direito, a tendência é para não ficar por esta reflexão filosófica, mas convertê-la num
método de interpretação. Isto leva-nos a encarar os elementos do momento jurisdicional
como simples “situações de leitura”, precipitados num esquema interpretativo, de onde o
juiz vai retirando determinadas significações, soluções e sentidos.
Poderíamos, de facto, fazer a pergunta: a nova hermenêutica tem tido muito êxito
explorada como método, mas põem-se algumas questões, precisamente a ver com a índole
da resposta que o julgador dá ao caso concreto. Será que o caso concreto é pura e
simplesmente uma situação de interpretação, ou seja, uma situação hermenêutica? O
julgador, quando vai experimentar a norma ou um princípio, parte de um caso concreto.
O caso concreto faz parte da sua situação de leitura, de entre outros elementos. Na
perspetiva da hermenêutica, o caso é mais um elemento à situação de leitura. Vistas assim
as coisas, tendemos a reconduzir o modus operandi do juiz a uma intenção compreensiva.
O julgador terá êxito na construção do juízo decisório se compreender bem os textos em
situação.
Esta insistência na intenção compreensiva é descaracterizadora do juízo decisório
concreto. O que importa é extrair dos textos critérios que se mostrem, em nome do
Direito, adequados à resolução dos problemas. A intenção é normativa (pode até ser
constitutiva) e não meramente compreensiva. É aqui que a visão hermenêutica, traga
embora várias ideias interessantes, falha na perspetiva do Direito. Pensá-la como um
método abrirá as portas para admitir que o problema da sentença é um problema
meramente de compreensão e interpretação. O que não é verdade.
O movimento atual do “Direito como literatura” esquece-se, porventura, que o
problema do Direito não é um problema de interpretação, como poderá ser a de um crítico
literário.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 23
De certo modo, a hermenêutica aparece como uma complementaridade
relativamente à “tópica”. Enquanto esta hipertrofia o problema, a hermenêutica está
fundamentalmente a pensar nas pré-determinações oferecidas pelo sistema.
Racionalidade narrativa
A terceira via trata-se de uma racionalidade narrativa, que parte da condição
humana de se ser um sujeito que comunica narrativamente. Todo o nosso modo de ser é
determinado através de “histórias”. De facto, a racionalidade narrativa, como o próprio
nome indica, tem fundamentalmente a ver com o discurso que construímos quando
contamos uma história, cujo objetivo é dar coerência ao discurso e usar recursos
linguísticos heterogéneos. O universo do Direito não ficou imune a esta racionalidade
prática. Transposta para o plano jurídico, facilmente se compreende das insuficiências
desta proposta de logos.
Poderá até ter importância nalguns momentos do discurso metodológico,
nomeadamente no problema da prova em sentido jurídico (admitir que o que temos são
histórias produzidas pelas partes, com várias dimensões). Mas não pode servir-nos de
forma integral. O juízo decisório proferido pelo juiz não é nem pode ser um juízo
narrativo. Quanto à questão de facto, até se pode admitir que o seja. Mas quando se trata
de atribuir a cada um os seus direitos e deveres, ou seja, chegar a uma solução concreta,
o que se mobiliza são componentes normativas e só com um grande esforço intelectual é
que pode ser reconduzida a uma inteligibilidade narrativa. Seria muito esforçado
pretender que a própria norma obedeça a um esquema estrutural narrativo.
A racionalidade (especificamente) jurídica
A racionalidade metodológica deve ser enquadrada como uma racionalidade
prática, nomeadamente por se assumir um esquema dialógico sujeito-sujeito e se acentuar
a importância racional da phronésis aristotélica. Não se duvida, no entanto, que o julgador
possa (e deva) utilizar argumentos lógicos ou que possa invocar experimentações táticas
e estratégicas.
A racionalidade jurídica não consegue, porém, reconduzir-se de forma plena a
nenhuma daquelas propostas puras de racionalidades práticas, tendo em si uma
particularidade que a coloca como possibilidade para além daquela tipologia. O mundo
pratico do Direito tem especificações não suscetíveis de ser absorvidas por estes modelos
gerais. Não obstante o caminho ser enriquecido por certos aspetos provenientes das
opções discursivas da racionalidade prática, ele não poderá passar pela sua mera
assimilação por um daqueles três modelos.
Linhares refere-se, assim, a quatro grandes dimensões na estrutura “tectónica” do
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 24
universo jurídico, que nos põem perante um problema específico de racionalidade: a
dimensão axiológica, a dimensão dogmática, a dimensão judicativo-decisória e a
dimensão problemática.
Há duas dimensões absolutamente decisivas, daí que se diga que são as dimensões
dos “polos”.
A dimensão axiológica traduz-se nas exigências basilares de uma ordem de
Direito. O Direito é, para nós, uma ordem de validade com certas aspirações que o
distinguem de outras experiências comunitárias (como a moral, por exemplo). As
soluções devem ser, em concreto, realizações desta ordem. Pretende-se construir uma
ordem comunitária de sujeitos-pessoas que se reconhecem e respeitam como pessoas
autónomas e responsáveis.
A dimensão problemática é aquela onde se inserem as controvérsias reais, os casos
concretos que o juiz é chamado a responder.
Estas duas dimensões não bastam; é necessário acrescentar outras duas,
intermédias.
Já se tendo uma dimensão de validade, há que assumir que nos dirigimos ao
sistema jurídico em busca dessa mesma ordem de validade comunitária, o que significa
que temos de ter uma “precipitação” institucional da dimensão axiológica, com caráter de
dogmaticidade, nos substratos que descendem dos princípios. É a dimensão dogmática,
em que a comparabilidade do juiz reside, sobretudo, na ideia de que o seu juízo está
sustentado em padrões de comparabilidade que radicam numa ordem de validade, a que
ele acede através da mobilização do sistema. A maior parte daquelas aspirações
manifestam-se em princípios, mas este é só um primeiro estrato do sistema jurídico. O
que é indispensável é ter à nossa disposição um sistema de fundamentos e critérios que
sejam uma assimilação daquele horizonte de validade e que sejam reflexo das
experiências em concreto. A dimensão axiológica tem de ser permanentemente
convertida numa dimensão dogmática, isto é, institucionalizada num conjunto de critérios
e fundamentos com manifestas diferenças ao nível das suas presunções de validade e
vigência. Serve de mediação entre aquela intenção e a dimensão das controvérsias
práticas.
De forma próxima, também a controvérsia real, para se lhe dar uma solução
jurídica, há de ser convertida num caso jurídico e, assim, “ascender” ao sistema (num
esquema dialético problema-sistema), à luz do qual o juiz tomará o relevo das suas várias
particularidades e garantirá a decisão judicativa ou o juízo decisório, por convocar as
exigências fundamentais e as predicações axiológicas de validade que o sistema reveste.
É a dimensão judicativo-decisória.
Trata-se, no fundo, de dizer que a resposta ao problema tem certamente
componentes decisórias, que vão ter de ser trabalhadas na perspetiva do sistema. As
decisões devem ser racionalizadas como juízos-julgamentos. O juiz parte do problema,
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 25
mas para lhe responder deve desenvolver uma experimentação do sistema e chegar a uma
resposta que seja uma realização conseguida, em termos de ser adequada ao caso, daquele
sistema. É uma dialética difícil – respeitar as exigências do caso concreto e as exigências
do sistema jurídico.
Estas quatro dimensões caracterizam a racionalidade do julgador. É uma
racionalidade prática, cujo esquema é sujeito-sujeito, e que se oferece como uma
racionalidade dialética problema-sistema.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 26
2ª FREQUÊNCIA
1. O problema atual da interpretação jurídica
1.1. Revisão do Método Jurídico do século XIX
AULA PRÁTICA DE DIA 28/10
Já discutimos o problema metodológico e a racionalidade subjacente. Até aqui
vimos o “como pensar?”. Agora procuramos o “como realizar?”, ou seja, o método
propriamente dito. Esta procura vai partir de um esquema metódico jurisprudencialista.
Devemos fazer uma contraposição, logo à partida, com o Método Jurídico do séc.
XIX, uma compreensão organizada à luz do Positivismo normativista e legalista. Era,
como já sabemos, um método prescritivo (pensado primeiro) com valor normativo
(pensar o Direito era pensá-lo desta específica forma). Tinha duas grandes pretensões: a
autonomia discursiva do próprio pensamento jurídico (significava assumir o problema do
Direito numa perspetiva interna, ou seja, assumir o Método como técnica operatória
própria do Direito); e a cientificidade do Direito positivo (fusão do positivismo e do
normativismo deu lugar à crença de que agir juridicamente é agir conforme o Método).
Qual é a construção metódica do séc. XIX?
1º: MOMENTO CIENTÍFICO (grande influência da Escola alemã, em que o
Direito era preponderantemente feito pelos costumes, devido à codificação tardia – Escola
Histórica de SAVIGNY): é o resultado da soma entre a jurisprudência dos conceitos e da
Escola da Exegese, duas escolas de pensamento jurídico do séc. XIX, tendo neste
momento maior peso a primeira. O momento científico serve para os juristas
racionalizarem o Direito. IHERING, na doutrina da jurisprudência dos conceitos, defende
que o Direito é um sistema normativista e distingue dois graus distintos para a sua
racionalização. O pressuposto será o Direito dado/positivo. O que marca o normativismo
é a junção de um cognitivismo e um objetivismo normativo. Então, o jurista apenas pode
conhecer o Direito (não o cria – isso cabe a elementos políticos, como o legislador ou o
costume). O jurista vai conhecer aquele objeto em termos intencionais. O Direito é dado
e, para IHERING, é dado pelos costumes e pelas leis, estando presente em materiais
jurídicos dispersos. IHERING distingue:
• Jurisprudência inferior: o papel é olhar para o Direito positivo e oferecer
uma primeira síntese racional, nas tarefas de análise jurídica e concentração lógica. O
objetivo é a simplificação racional dos materiais vigentes, simplificação essa quantitativa
e qualitativa, ou seja, que leve a uma diminuição do volume dos materiais e a uma
descoberta de nexos lógicos entre eles, de modo que eles se agrupem em proposições
mais amplas. O resultado será a extração de um conjunto de proposições normativas
(normas “se… então…”). É como se toda a contingência dos materiais fosse resumível
nestas proposições. Através de um raciocínio por abstração generalizante, chega-se aos
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 27
princípios gerais de Direito (que são os “centros lógicos”). São uma síntese racional de
um conjunto de normas.
Mas os juristas não estão a fazer ciência, porque a sua matéria-prima ainda é
contingente. Ainda não existe um sistema jurídico estruturado. É essa a tarefa da
jurisprudência superior.
• Jurisprudência superior: o objetivo é a construção conceitual, em que se dá
a sistematização. O que é um conceito? É uma unidade lógica (não normativa), que
descreve algo. É uma unidade lógica capaz de condensar algo essencial para o Direito. É
aqui que os juristas fazem ciência ao construir um sistema dogmático. Vão procurar
unidades ainda mais amplas que as proposições e que os princípios gerais de Direito,
dando origem aos Institutos jurídicos (conceitos). É uma ideia de lógica pura. O sistema
ao qual se chega, formado pelos corpos simples do Direito (unidades essenciais), já não
é o Direito do qual se partiu. É um sistema racionalizado. Claro que o esquema sujeito-
objeto nunca se perde.
Este é o momento científico.
2º: MOMENTO HERMENÊNTICO (maior peso da Escola da Exegese – escola
francesa, que via o Código como um sistema racionalizado de Direito): Diz respeito ao
problema da interpretação do Direito dado (interpretação racional). O objeto da
interpretação são as normas, que são assumidas como textos. Como é que a norma-texto
deve ser interpretada de modo a que possa funcionar como pressuposto na aplicação
lógico-dedutiva? É necessário chegar a um sentido único, para que se chega a uma norma-
premissa. O que é um grande problema, porque a linguagem não é absolutamente
determinada. Este problema foi ultrapassado através da construção da teoria da
interpretação: ao usar uma serie de cânones de interpretação, chegar-se-ia a um único
sentido possível. A ideia é reproduzir o sentido autêntico da norma (intenção
hermenêutico-cognitivista) e não ir além do seu conteúdo textual.
A dogmática da interpretação divide entre os elementos, os objetivos e os
resultados da interpretação. A referência aos elementos da interpretação deve muito a
SAVIGNY. Quais os elementos a assimilar?
1º. Elemento literal ou gramatical (a letra da lei);
2º. Elemento histórico;
3º. Elemento lógico-sistemático.
Estes três são elementos intratextuais – o jurista não ultrapassa os limites do texto,
sendo este o universo dos sentidos possíveis.
4º. Elemento (residual) teleológico: é um elemento extratextual e, como tal, era
considerado perigosos por SAVIGNY pois admite considerações práticas que podem
levar ao arbítrio interpretativo. Assim, este elemento, que assenta no motivo ou fim
pratico da norma, só poderia ser excecionalmente mobilizado quando estivéssemos
perante textos não saudáveis, perante situações metodológicas excecionais, quase
ininterpretáveis.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 28
Como mobilizar estes elementos?
O elemento literal tem prioridade analítica e cronológica no processo de
interpretação (é mobilizado no 1º momento). O jurista confere-lhe esse relevo normativo
e uma prioridade analítica e cronológica. Através de uma referência negativa, parte-se
para a exclusão dos sentidos impossíveis, aqueles que não nutrem qualquer conexão com
a letra da lei, ou, nas palavras de IHERING, os candidatos negativos. Sobre estes paira
uma certeza negativa. Determina-se o que a lei não quer dizer. Delimita-se, então, um
círculo de hipóteses interpretativas admissíveis. Como se determinam? Vão-se mobilizar
os outros elementos intratextuais. A ordem dependerá dos objetivos de interpretação e
aqui temos duas grandes correntes: a tese subjetivista e a tese objetivista. O interprete que
se filiasse na teoria subjetivista entendia que a interpretação tem por fim recriar a intenção
político-social do legislador na elaboração da norma. Esta compreensão foi desafiada, na
segunda metade do séc. XIX, pela teoria objetivista, na qual o objetivo da interpretação é
recriar o sentido do texto como objeto autónomo de interpretação. Pode assumir uma
modalidade histórica, em que se procura o sentido no momento em que foi criado o texto,
ou atualista, em que se procura o sentido no momento da interpretação.
Tendo em conta o objetivo da interpretação, dar-se-á prioridade ao elemento
histórico ou ao elemento sistemático. O elemento histórico é composto pela occasio legis
e pelos materiais da lei. O elemento lógico-sistemático diz respeito ao enquadramento
dogmático da norma no sistema jurídico (em que se fala nos lugares contíguos e nos
lugares paralelos)
AULA TEÓRICA DE DIA 29/10
Para compreendermos o esquema metódico, importará, num primeiro capítulo,
que se frequente terra conhecida, que é exatamente aquela que corresponde ao esquema
metódico proposto pelo Método Jurídico do sec. XIX. Se vamos abordar um esquema
metódico, inspirado numa perspetiva jurisprudencialista, com base numa dialética
sistema-problema, importará aludir a alguns pontos fundamentais do Método Jurídico do
sec. XIX para percebermos bem do que se trata quando queremos um esquema metódico.
Ao fazer este confronto, estaremos em condições de perceber que há uma abordagem
significativamente diferente, claramente oposta, desde logo, na relação entre o logos e o
método. O próprio conjunto de equilíbrios que sustentam o esquema metódico do séc.
XIX ajudar-nos-á a perceber o que está em causa na perspetiva jurisprudencialista quanto
às exigências de realização do Direito em concreto.
Quais são as pretensões do Método Jurídico do sec. XIX? Realmente, a
preocupação que este esquema metódico responde é exatamente a de procurar definir um
método que, sem discussão e sem alternativa, como que assimilado naturalmente, se possa
impor como o Método do pensamento jurídico. Esta acentuação também nos ajudará a
perceber uma possibilidade de podermos, eventualmente, estar a assistir, no nosso tempo,
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 29
à construção de um novo método jurídico, depois de um período conturbado do Método
Jurídico. Podemos já dizer que parece excessiva essa representação. Evidentemente há
alguns pontos a várias perspetivas do pensamento jurídico metodológico contemporâneo,
mas há evidentemente diferenças. Aquela representação justificar-se-á pelo êxito que
certas abordagens metodológicas têm tido. Voltaremos a esta questão no final do
semestre. O pensamento que hoje reúne condições para poder ser tratado como Novo
Método Jurídico está ligado a uma teoria da interpretação, com vários autores
representativos (ALEXI), muito invocada na jurisprudência. O DR AROSO LINHARES
tem sérias dúvidas, porque esta é uma perspetiva entre diversas perspetivas e, por outro
lado, o modo como se refere a categoria da ponderação é tao aberto e indeterminado que
a relação que poderá ter com um esquema metódico é débil.
A preocupação de identificar um Método para a ciência do Direito foi superada,
que não evitou, de modo algum, que as exigências deste Método fossem preservadas
(continuaram a desenvolver-se perspetivas normativas, que aparecem hoje como apenas
perspetivas entre muitas). Será mais exato dizer que tivemos este paradigma e que foi
superado enquanto paradigma, o que não quer dizer que a perspetiva não tenha sido
assimilada por outras. Perdeu o seu estatuto de paradigma, deixando de ser o pensamento
dominante e passando a ser um pensamento entre muitos. É uma situação de pluralidade
que hoje reconhecemos. Falar de condições para um Novo Método Jurídico é, por isso,
forçado e não será desejável ou sequer necessário.
Para nós recordarmos alguns aspetos importantes para o confronto, é importante
lembrar que esta construção do método jurídico do sec. XIX é orientada por uma
racionalidade teorética, voltada para uma referência a uma validade científica. Uma das
suas heranças principais, que vem dos finais do séc. XVIII, é precisamente uma distinção
entre Direito e pensamento jurídico. Até então, em toda a experiencia pré-moderna do
Direito e durante a primeira modernidade, sempre se admitiu que quando se fala em
pensamento jurídico se reconhece uma índole normativa: refletia-se sobre o Direito para
extrair dessa reflexão contributos que pudessem ser utilizados na prática na resolução das
controvérsias. De facto, o pensamento jurídico tinha uma índole pratico-normativo e, por
isso, era inseparável do Direito. Contribuía para a própria constituição do Direito. Havia
uma espécie de circularidade. De facto, o que acontece nos finais do séc. XVIII, por
influência da Escola Histórica, com repercussões no contexto revolucionário francês, é
claramente uma exigência de “separar as águas”. Uma coisa é o Direito, com intenções
praticas (dever-ser), entendido como um sistema racional de normas. O pensamento
jurídico não deve ter aquela intenção pratica. A sua tarefa é conhecer e trabalhar
cientificamente o Direito que existe. O Direito é o objeto do pensamento jurídico, aquilo
a que se vai chamar a ciência dogmática do Direito. O pensamento jurídico deverá ter
intenções cognitivas. A preocupação será o Direito que é e não o Direito que deve-ser. A
tarefa da ciência do Direito seria conhecê-lo. Esta cisão vai ser acentuada ao longo do
séc. XIX, pela influência cultural do cientismo, que passa a ser o padrão de validade para
todas as práticas. O discurso jurídico aspira a converter-se numa verdadeira ciência. E
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 30
aqui deve acentuar-se ainda outro problema que vai preocupar fortemente o discurso do
séc. XIX: não se trata de autonomizar a ciência dogmática do Direito como uma qualquer
ciência; trata-se no fundo de querer construir uma ciência jurídica, isto é, que seja
verdadeiramente autónoma, cuja perspetiva possa ser verdadeiramente sustentada como
perspetiva jurídica. O que não deixa de ser um pouco paradoxal – encontrar uma marca
de água que distinga esta ciência jurídica das outras ciências (por exemplo, de uma
perspetiva sociológica do Direito ou de uma abordagem política do Direito ou de uma
metateoria moral). Como é que isto se solucionará? A resposta desenvolveu-se em duas
linhas muito diferentes: Escola da Exegese (francesa) e Escola Histórica (positivismo
científico e conceitual). O contributo maior foi, sem dúvida, o positivismo científico
alemão.
A dupla pretensão de construir uma ciência e de uma ciência jurídica (própria do
Direito) – a solução vai ser a de encontrar uma certa perspetiva do Direito – a perspetiva
normativista. Quando consideramos o objeto Direito, consideramos um sistema de
enunciados dever-ser (ou seja, normas), universalmente racionais (os conteúdos do
Direito são conteúdos que estamos em condições de conhecer e determinar em abstrato)
e com a estrutura logico-hipotético-condicional. Essa perspetiva normativista do Direito
leva a defender que todas as significações juridicamente relevantes estão dadas em
abstrato. O Direito existe em abstrato, nas normas. Existe num sistema coerente de
normas. Será um sistema verdadeiramente unidimensional.
Porquê que isto resolve as tensões? O objeto que a ciência do Direito tem de
conhecer e trabalhar cientificamente é constituído por estes enunciados. O objeto não é
constituído por decisões ou comportamentos. Este ponto de partida, ao atribuir à ciência
do Direito um objeto específico, vai permitir também um Método que se considera
simultaneamente científico e jurídico. Vai condicionar o próprio tipo de discurso. Por o
Direito ser um sistema de normas, ele exige uma ciência analítica e não empírica (não se
estuda fenómenos reais e sim normas na sua inteligibilidade racional). Será uma analítica
categorial-classificatória, que encontra na classificação a sua etapa fulminante.
De facto, a questão que aqui se coloca é a de saber se, perante esta ciência jurídica,
uma ciência dogmática, ela tem uma ambição: a de se projetar na prática, a de racionalizar
teoreticamente a prática. Esta característica permite distinguir o Normativismo do
Positivismo do Normativismo de KELSEN, por exemplo. Aqui pretende oferecer-se à
prática condições para que haja uma verdadeira aplicação objetiva. Estão aqui em jogo
fatores de ordem filosófico-político e constitucional, desde logo, o princípio da separação
de poderes levado ao extremo. O Método quer oferecer condições para que efetivamente
o juiz possa ser a voz da vontade geral. Trazer para o plano das controvérsias a vontade
geral, mobilizando os recursos da lógica formal até chegar à resposta para os casos. As
significações do Direito estão todas pré-determinadas em abstrato. O que é preciso é
projetá-las em concreto, sem introduzir alterações e sem alterar a sua universalidade
racional. O prius metodológico será sempre a norma, levada a sério como premissa. Se o
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 31
prius fosse o caso, correr-se-ia o risco de condicionar a racionalidade da norma, porque
o olhar do juiz era um olhar concreto.
Todo o Método Jurídico do séc. XIX se constrói neste propósito (que IHERING
reconstruiu): pensam-se um conjunto de tarefas para que depois seja possível aplicar o
Direito logico-dedutivamente.
Aquele autor autonomizou várias operações previas à aplicação do Direito, sendo
que esta é um momento exterior ou técnico relativamente ao Método.
Devemos lembrar as diferenças entre o positivismo exegético e o positivismo
conceitual. A diferença principal: o primeiro, desde o princípio, conjuga o normativismo
(que é comum às duas orientações – a conceção do Direito como um sistema de normas)
com o legalismo. A melhor maneira de percebermos o que distingue o normativismo do
legalismo é pensar no seguinte: quando se pensa no normativismo, pensa-se no problema
do sistema jurídico (o conteúdo do Direito) e, se nos filiarmos no normativismo, acentua-
se o carater sistemático e unidimensional do sistema. Quando eu respondo à questão do
legalismo, trata-se do plano da teoria das fontes: o único modo válido de constituição e
manifestação do Direito é aquele que corresponde à experiência legislativa. No horizonte
do positivismo exegético, estas duas representações coincidiram – o Direito é um sistema
de normas prescritas legislativamente (basta pensar nos Códigos de Napoleão). Isto já não
acontece no contexto alemão. As condições no plano político e cultural não deixaram.
Tínhamos um conjunto de reinos, com estruturas e legislações muito distintas. E, para
além disso, há uma manifesta atitude contrarrevolucionária, o que acaba por condicionar
toda a abordagem. Mais importante é a influencia que tem a Escola Histórica, dos finais
do séc. XVIII. O Direito é um precipitado das forças da História, do “espírito do povo”.
Cada comunidade terá a sua língua, os seus costumes, a sua música e o seu Direito. O
que significa que a Escola Histórica vai dar uma importância enorme às fontes
consuetudinárias. Vamos encontrar, em pleno séc. XIX, esta defesa clara de que há dois
modos válidos de constituição do Direito: modo consuetudinário e modo legislativo. O
positivismo científico, na pandectística, considera que o Corpus Iuris Civilis é uma fonte
de Direito. É uma situação muito mais complexa. O Direito é constituído por materiais
distintos. Só que, como temos muitos materiais jurídicos, gera uma situação de
complexidade e incerteza, pois temos uma pluralidade de fontes de Direito a atuar no
horizonte de uma visão positivista. Então, a primeira tarefa da ciência do Direito será a
de simplificar esses materiais. A origem não é questionada (não há a adoção de um
legalismo). Mas é preciso trabalhar os materiais, ou seja, convertê-los em proposições
normativas. Exprimir uma prática consuetudinária numa proposição normativa com
estrutura hipotético-condicional. O Direito vai ser traduzido num sistema de normas. É a
conjugação de um normativismo com o positivismo. Num primeiro patamar – o da
jurisprudência inferior -, a tarefa é conhecer o Direito, diminuir a sua complexidade,
reconstituindo as normas que estão implícitas nesse Direito. Essa tarefa é pensada como
uma simplificação porque vai funcionar numa sequência de degraus:
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 32
- Primeiro, a análise jurídica (todo o Direito objeto passa a ser convertido num
conjunto de enunciados de dever-ser que têm em comum uma estrutura logica – é uma
tarefa tendencialmente infinita), chegando-se ao “Direito objetivo”;
- Segundo passo: daqui resultam os princípios gerais de Direito (os chamados
“princípios como ratio”). Introduz-se uma seleção ligada aos institutos. Procurar-se-ão
elementos comuns às normas, através de um esforço de generalização (que se diz
“concentração lógica”), chegando-se ao centro lógico, que será o princípio. Chegar-se-á
a um conjunto de normas mais amplas, através de um exercício sucessivo de abstração e
generalização – essas normas serão os princípios gerais de Direito. São entendidos como
sínteses obtidas pela ciência do Direito a partir do exercício de abstração generalizante.
É como que um resumo que reproduz, no seu núcleo, o conteúdo das normas. Logo, não
haverá nenhuma tensão entre o PGD e o conteúdo das normas (se o exercício foi bem
feito). Este trabalho era importante porque facilitava a compreensão daquilo que é
fundamental ao Direito. Os PGD não seriam, em rigor, Direito vigente, mas eram
enunciados (“postulados”) formulados pela Ciência dogmática do Direito para que os
juristas pudessem conhecer melhor o Direito. Têm uma função epistemológica (e NÃO
são direito vigente).
Agora, uma tarefa muito importante, na qual o Pensamento Jurídico do séc. XIX
se excedeu em termos de contributos, que é a tarefa da interpretação. Fala-se da distinção
entre o momento científico e o momento hermenêutico (em que se trata da tarefa da
interpretação). Esta tarefa não seria possível só com os contributos da análise jurídica e
da concentração lógica. É necessária outra tarefa, que cabe à Jurisprudência Superior, que
é a tarefa de construção conceitual. Seria um patamar mais nobre. Caberia ao discurso
académico. Esta tarefa era exclusivamente de construção conceitual. Parte-se de um
conjunto de materiais trabalhados e convertidos em proposições normativas e ate em
PGD. Nesta etapa, parte-se do que já está a ser obtido e explicitado pela Jurisprudência
Inferior. Qual é o propósito? Reconstituir a unidade que existe entre as normas, ou seja,
tornar evidente a própria categoria sistema. Defende-se uma visão horizontal do sistema,
competindo à Jurisprudência Superior reconhecer as relações de vizinhança entre as
normas (independentemente da sua fonte – não há qualquer manifestação de hierarquia
entre as normas). Como se reconhece a unidade entre elas? A unidade diz-se horizontal e
é “por coerência”, que tem a ver com conteúdos das normas (não as soluções), os
conteúdos ao nível das categorias, dos conceitos que as normas pressupõem. As normas
pressupõem a mesma rede de conceitos. A tarefa da ciência do Direito na sua etapa
superior vai ser reconstituir estes conceitos como uma rede absolutamente segura e com
um enorme rigor. A grande tarefa da Pandectística do séc. XIX, construída neste contexto,
foi exatamente esta. A tarefa deve ser indiferente às soluções que as normas impõem, isto
é, à prática; o que importa é perceber as categorias que elas mobilizam. A tarefa
interpretativa aparecerá, assim, muito simplificada. Isto levou claramente a muitos
exageros, embora tenha contributos manifestos. Mas passaram a debater-se dimensões da
construção conceitual que, muitas vezes, não tinham qualquer repercussão na realidade.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 33
Mas fez-se exatamente naquela intenção teorética de conhecer o Direito. Havia nesta
construção uma preocupação muito grande em refletir a Escola Histórica, porque estes
conceitos seriam os institutos historicamente precipitados. Esta reflexão foi ultrapassada
através da jurisprudência dos conceitos.
O precipitado de todo este trabalho resultou no Código Civil alemão, resultando
numa contradição com a Escola Histórica alemã de SAVIGNY, que rejeitava o legalismo
e o movimento de codificação. Dá-se o passo de construir um Código na pretensão de que
ele absorvesse todo o trabalho feito pela ciência dogmática do Direito.
O momento hermenêutico é aquele onde se trata do problema da interpretação,
que será uma interpretação analítica. Foi desenvolvida a teoria da interpretação.
Evidentemente que uma coisa será a teoria da interpretação típica do séc. XIX, outra será
a teoria tradicional da interpretação, herdeira daquela e que, no séc. XX, se foi abrindo a
outras soluções (nomeadamente, à utilização do elemento teleológico, considerado
perigoso e evitável na teoria da interpretação do séc. XIX).
Interessa agora reconstituir o núcleo originária da teoria da interpretação. A sua
origem ao nível do Método Jurídico passa logo por uma distinção de quatro grandes
problemas que ainda hoje identificamos à partida quando falamos numa teoria da
interpretação: o problema do objeto, do objetivo, dos elementos e dos resultados. São
quatro temas perfeitamente distintos e complementares.
Quando se trata de responder à primeira questão, a resposta não pode ser mais
clara: o objeto da interpretação é um texto. Esta interpretação assume-se, desde já, como
teorético-cognitiva. Trata-se de apreender os sentidos de um texto. Um texto que será uma
proposição normativa, que nos permite identificar o Direito como Direito. Há uma certa
visão constitutiva do texto, pois identifica-se, através do texto, o que é válido e o que não
é. Mais importante do que esta ideia de que o texto é constitutivo da própria juridicidade,
é a ideia da própria conceção global do texto. quando falamos das significações do texto.
estamos a identificar seguramente o texto no seu contexto gramatical (o chamado
elemento literal); mas o texto não se esgota nessa relevância filológico-gramatical, porque
para SAVIGNY quando falamos de texto, falamos noutras significações também: as que
estão associadas ao elemento histórico (mobilização dos trabalhos preparatórios, por
exemplo) e ao elemento sistemático (enquadramento da norma no instituto jurídico) –
elementos intratextuais. Quando falamos em texto falamos de um corpus de significações
que incluem o elemento gramatical, o elemento histórico e o elemento sistemático. Por
isso, é equívoco dizer que para o Positivismo do séc. XIX só importava a letra da lei. Esta
nota é importante porque introduz um binómio entre o que são elementos intratextuais e
elementos extratextuais. A sistematização de SAVIGNY utiliza elementos intratextuais.
O elemento teleológico é extratextual. Aqueles estão inscritos no próprio texto, ainda que
com um maior esforço. Quando se considera um elemento extratextual, a significação não
está no texto – será o próprio interprete a atribui-lo ao texto. logo, há que reconhecer aqui
um perigo: o perigo da arbitrariedade. Há que evitar o recurso ao elemento teleológico. E
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 34
SAVIGNY desenvolve duas propostas neste sentido: uma de rejeição total e outra numa
situação em que a norma está tao mal formulada (situação anómala e excecional –
“normas não saudáveis”).
Por isso se diz que há uma fortíssima assunção de um discurso ateleológico – é
um discurso livre de fins.
Ao mesmo tempo, a teoria da interpretação que estamos a considerar vai exigir do
intérprete um exercício analítico e cronológico (descrição de etapas que devem ser
rigorosamente respeitadas). A primeira pergunta do intérprete será respondida através da
mobilização exclusiva do elemento literal – porque um dos postulados da teoria da
interpretação é precisamente o postulado de que a letra desempenha uma função
delimitadora das possibilidades de interpretação. Ou seja, não vou poder atribuir à norma
um sentido que não tenha na lei um mínimo de correspondência (que influenciou a teoria
da alusão do art. 9º/2 CC). Estamos perante o desempenho de uma função negativa da
letra da lei, porque aquilo que o interprete vai querer saber, em primeiro lugar, são os
sentidos que a letra exclui. A pergunta faz-se admitindo que essa função delimitadora da
letra se cumpre pela negativa, excluindo todos os sentidos que não tenham qualquer
correspondência. Serão excluídos de quê? Da tarefa interpretativa!
No esquema metódico do jurisprudencialismo isto pode não acontecer. Há
possibilidades de realização da norma que nos permitem sacrificar a letra. Desde logo, as
possibilidades de redução, a interpretação teleológica e a interpretação conforme os
princípios.
Admitir que a letra consegue ter, à partida, esta função delimitadora é discutível,
claramente. Mas é um postulado fundamental da teoria da interpretação.
A letra, ao excluir sentidos, está a estabelecer um pressuposto que tem um valor
normativo ou prescritivo. O interprete não estará autorizado a atribuir àquela norma um
sentido que a letra exclua (um “candidato negativo”).
Dando este primeiro passo, há uma série de sentidos excluídos e os que restaram
são os sentidos possíveis. Na visão mais ingénua da teoria da interpretação, o desejável
era que, após a exclusão, ficar-se-ia apenas com o sentido possível da norma. Isto será
raríssimo. E a teoria da interpretação do séc. XIX reconhece essa situação. O objetivo é
chegar a um sentido único e exclusivo.
Como se vai fazer a escolha do sentido? A teoria da interpretação reconhece que
a letra tem um papel de seleção aqui. Este papel não se vai cumprir isoladamente. Nesta
segunda etapa de seleção de sentidos, ela estará a atuar ao lado do elemento histórico e
do elemento sistemático. Se assim é, o que é que poderá acontecer eventualmente?
Analiticamente isto é muito rigoroso e claro. Mas deixa-nos muitas dúvidas quanto ao
efetivo sucesso. A função seletiva da letra permite-nos dizer que alguns dos sentidos são
mais naturais que outros. Serão menos forçados, isto é, corresponderão ao uso mais
habitual da própria letra. Esta atuação pela positiva não tem um valor prescritivo ou
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 35
normativo. O interprete não vai ter de escolher um sentido mais natural. A sua opção pode
ser por um sentido menos natural (que é ainda permitido/possível), por argumentos
sistemáticos ou históricos. É exatamente esta escolha que está em causa na interpretação
extensiva, restritiva e enunciativa.
Foi esta teoria da interpretação do Método Jurídico do séc. XIX que deu origem à
linguagem dos “candidatos” (candidatos positivos/negativos) e, dentro dos candidatos
positivos, os candidatos positivos (mais naturais) e os candidatos “neutros”, na expressão
do DR. AROSO LINHARES (menos naturais, num contexto de incerteza e insegurança,
através de uma argumentação histórica e sistemática, ou seja, uma argumentação
intratextual). A escolha por um candidato positivo faz-se por uma interpretação
declarativa, em que todos os elementos intratextuais apontam nesse sentido.
Liliana Andrade – turma única – 2019/2020 Pág. 36
Você também pode gostar
- Jurimetria by Marcelo Guedes NunesDocumento162 páginasJurimetria by Marcelo Guedes NunesrapidodemaisssAinda não há avaliações
- Teorias Contemporâneas do Direito: análise crítica das principais teorias jurídicas da atualidadeNo EverandTeorias Contemporâneas do Direito: análise crítica das principais teorias jurídicas da atualidadeAinda não há avaliações
- Publicidade do Processo Civil em Tempos de Mídias Sociais GlobaisNo EverandPublicidade do Processo Civil em Tempos de Mídias Sociais GlobaisAinda não há avaliações
- Gerd Willi - Standards JurídicosDocumento16 páginasGerd Willi - Standards JurídicosBruno IankowskiAinda não há avaliações
- Metodologia Do Direito - Teóricas PatríciaDocumento16 páginasMetodologia Do Direito - Teóricas PatríciaMariana MoreirAinda não há avaliações
- Aulas Metodologia JurídicaDocumento15 páginasAulas Metodologia JurídicaDani PinhoAinda não há avaliações
- Metedologia Direito 1o TesteDocumento33 páginasMetedologia Direito 1o TesteShakira TurAinda não há avaliações
- MD Teóricas Filipa Ribeiro Gonçalves 2019 2020 1Documento94 páginasMD Teóricas Filipa Ribeiro Gonçalves 2019 2020 1Mara Rafaela SilvaAinda não há avaliações
- Filosofia Do DireitoDocumento50 páginasFilosofia Do DireitopriscilamatulaitisAinda não há avaliações
- Um báculo para Hércules :: o papel desonerador da doutrina jurídica nas decisões judiciaisNo EverandUm báculo para Hércules :: o papel desonerador da doutrina jurídica nas decisões judiciaisAinda não há avaliações
- Metodologia Teóricas - 1 FrequênciaDocumento44 páginasMetodologia Teóricas - 1 FrequênciaMariana MoreirAinda não há avaliações
- Ãulas Práticas MetodologiaDocumento24 páginasÃulas Práticas MetodologiaMariana MoreirAinda não há avaliações
- Considerações sobre a presunção de simetria e paridade nos contratos civis e empresariaisNo EverandConsiderações sobre a presunção de simetria e paridade nos contratos civis e empresariaisAinda não há avaliações
- Introdução Ao Direito - ResumosDocumento85 páginasIntrodução Ao Direito - ResumosPedro SoaresAinda não há avaliações
- UntitledDocumento5 páginasUntitledInês Da Silva MartinsAinda não há avaliações
- II Seminário de Processo Civil Da UFOP - 8 Fev. 2018Documento10 páginasII Seminário de Processo Civil Da UFOP - 8 Fev. 2018serginhokekoAinda não há avaliações
- RIBEIRO MOREIRA - NeoconstitucionalismoDocumento22 páginasRIBEIRO MOREIRA - NeoconstitucionalismoAnonymous PaHSbiOCAinda não há avaliações
- Metodologia Do Direito ApontamentosDocumento22 páginasMetodologia Do Direito ApontamentosFlávio100% (2)
- Apontamentos 2a Turma DR Aroso Livro Igual Eduardo FigueiredoDocumento33 páginasApontamentos 2a Turma DR Aroso Livro Igual Eduardo Figueiredofernando saAinda não há avaliações
- Acesso (e bloqueios) à justiça no Brasil: observações críticas a partir da potência crítica da teoria dos sistemasNo EverandAcesso (e bloqueios) à justiça no Brasil: observações críticas a partir da potência crítica da teoria dos sistemasAinda não há avaliações
- Lenio Luiz Streck - A Crise Paradigmática Do Direito No Contexto Da Resistência Positivista Ao (Neo) Constitucionalismo PDFDocumento32 páginasLenio Luiz Streck - A Crise Paradigmática Do Direito No Contexto Da Resistência Positivista Ao (Neo) Constitucionalismo PDFmarigranAinda não há avaliações
- Poderá Ser o Direito Um Espaço de EmancipaçãoDocumento3 páginasPoderá Ser o Direito Um Espaço de EmancipaçãojoaoAinda não há avaliações
- Lenio Luiz Streck - A Atualidade Do Debate Da Crise Paradigmática Do Direito e A Resistência Positivista Ao NeoconstitucionalDocumento34 páginasLenio Luiz Streck - A Atualidade Do Debate Da Crise Paradigmática Do Direito e A Resistência Positivista Ao NeoconstitucionalMateus Barbosa Gomes AbreuAinda não há avaliações
- A Atualidade Do Debate Da Crise Paradigmática Do Direito e A Resistência Positivista Ao Neoconstitucionalismo - Streck, Lenio LuizDocumento34 páginasA Atualidade Do Debate Da Crise Paradigmática Do Direito e A Resistência Positivista Ao Neoconstitucionalismo - Streck, Lenio Luizjatacla100% (1)
- REGRAS E PRINCÍPIOS - POR UMA DISTINÇÃO NORMOTEORÉTICA - Álvaro Ricardo de Souza Cruz PDFDocumento38 páginasREGRAS E PRINCÍPIOS - POR UMA DISTINÇÃO NORMOTEORÉTICA - Álvaro Ricardo de Souza Cruz PDFAnderson Pressendo MendesAinda não há avaliações
- 34459-Texto Do Artigo-115561-1-10-20150126Documento11 páginas34459-Texto Do Artigo-115561-1-10-20150126Felipe RodolfoAinda não há avaliações
- O Problema de Uma Definição Substantiva e Transcultural Do DireitoDocumento9 páginasO Problema de Uma Definição Substantiva e Transcultural Do DireitotchutchutchuAinda não há avaliações
- Dimitri Dimoulis - Positivismo, Moralismo e Pragmatismo Na Interpretação Do Direito Constitucional PDFDocumento16 páginasDimitri Dimoulis - Positivismo, Moralismo e Pragmatismo Na Interpretação Do Direito Constitucional PDFmarigranAinda não há avaliações
- Introdução Ao Direito IDocumento32 páginasIntrodução Ao Direito Isimaorcabral2005Ainda não há avaliações
- Artigo - As Normas Fundamentais Do Novo CPCDocumento24 páginasArtigo - As Normas Fundamentais Do Novo CPCFernando MeloAinda não há avaliações
- Plinio Pacheco - Direito e Norma JurídicaDocumento11 páginasPlinio Pacheco - Direito e Norma JurídicaEdifício Vila AldeiaAinda não há avaliações
- RDConsInter n.95.06Documento20 páginasRDConsInter n.95.06x2Ainda não há avaliações
- Resumo - A Ciência Do Direito (Tercio Sampaio)Documento6 páginasResumo - A Ciência Do Direito (Tercio Sampaio)Isabella MouraAinda não há avaliações
- Apostila - Aulas de IED - Parte 1 - 220419 - 164616Documento77 páginasApostila - Aulas de IED - Parte 1 - 220419 - 164616Francisco MesquitaAinda não há avaliações
- Iad1 Sebenta PDFDocumento32 páginasIad1 Sebenta PDFFilipa OliveiraAinda não há avaliações
- CASTANHEIRA, Neves e CUNHA, Paulo. Sobre A Metodologia JurídicaDocumento2 páginasCASTANHEIRA, Neves e CUNHA, Paulo. Sobre A Metodologia JurídicapereiraruiAinda não há avaliações
- Aula 01Documento114 páginasAula 01Everton LucasAinda não há avaliações
- Metodologia Juridica 4oano FDUC Doutor Pinto BronzeDocumento129 páginasMetodologia Juridica 4oano FDUC Doutor Pinto Bronzedanielfilipe2123Ainda não há avaliações
- Hermenêutica e Direitos Humanos: Fabiano Melo e Filipe Augusto Caetano SanchoDocumento86 páginasHermenêutica e Direitos Humanos: Fabiano Melo e Filipe Augusto Caetano SanchofabricioaparecidogabrielAinda não há avaliações
- HermeuneticaDocumento15 páginasHermeuneticaWillian SilvaAinda não há avaliações
- Artigo ÉticaeDireitoDocumento14 páginasArtigo ÉticaeDireitoRodrigo RabelloAinda não há avaliações
- Resumo: Introdução Ao Estudo Do Direito (Ied)Documento69 páginasResumo: Introdução Ao Estudo Do Direito (Ied)matheusphilipe.555Ainda não há avaliações
- Filosofia Do DireitoDocumento44 páginasFilosofia Do Direito9zxwrtsqvdAinda não há avaliações
- Metodologia Do Direito SebentaDocumento67 páginasMetodologia Do Direito SebentaNeuza FerreiraAinda não há avaliações
- Juliano Zaiden Benvindo - Ativismo Judicial No STF. Um Debate Sobre Os Limites Da RacionalidadeDocumento12 páginasJuliano Zaiden Benvindo - Ativismo Judicial No STF. Um Debate Sobre Os Limites Da RacionalidadeVitor SolianoAinda não há avaliações
- Direito Alternativo - Brasil - Jose de Oliveira AscensaoDocumento9 páginasDireito Alternativo - Brasil - Jose de Oliveira AscensaoRRGAinda não há avaliações
- Uma Breve Leitura Sobre o Ensino Da Sociologia Jurídica No BrasilDocumento7 páginasUma Breve Leitura Sobre o Ensino Da Sociologia Jurídica No BrasilLorenaAinda não há avaliações
- Direito Grego Positividade Problematicidade e Deci PDFDocumento18 páginasDireito Grego Positividade Problematicidade e Deci PDFEmerson Abdul PaisseneAinda não há avaliações
- A Evolução Do Sistema Jurídico Segundo A Teoria Dos Sistemas de LuhmannDocumento22 páginasA Evolução Do Sistema Jurídico Segundo A Teoria Dos Sistemas de Luhmannhenrique rodriguesAinda não há avaliações
- Apontamentos Filosofia Do Direito IIDocumento8 páginasApontamentos Filosofia Do Direito IICatarina AlmeidaAinda não há avaliações
- Aula 2 - Artigo - Teoria Dos Princípios FormaisDocumento30 páginasAula 2 - Artigo - Teoria Dos Princípios FormaisJuliane AraújoAinda não há avaliações
- Teoria Do Direito e o Papel Dos JuízesDocumento46 páginasTeoria Do Direito e o Papel Dos JuízesJean MarcelAinda não há avaliações
- Questões IED Introdução Ao Estudo Do DireitoDocumento3 páginasQuestões IED Introdução Ao Estudo Do DireitoAcollonAinda não há avaliações
- A Justiça sub judice - reflexões interdisciplinares: Volume 4No EverandA Justiça sub judice - reflexões interdisciplinares: Volume 4Ainda não há avaliações
- Filosofia Do DireitoDocumento48 páginasFilosofia Do DireitoAna Sofia SousaAinda não há avaliações
- Conceito de PropriedadeDocumento20 páginasConceito de PropriedadeJosé AlmeidaAinda não há avaliações
- Criminalização Da Homofobia - Salo de CarvalhoDocumento354 páginasCriminalização Da Homofobia - Salo de CarvalhoLuiz LaboissiereAinda não há avaliações
- Critérios de Correcção Época Antecipada 2015 2016Documento4 páginasCritérios de Correcção Época Antecipada 2015 2016Mariana MoreirAinda não há avaliações
- Perguntas e RespostasDocumento30 páginasPerguntas e RespostasAntónio VieiraAinda não há avaliações
- Direito Internacional Privado I Aulas Práticas Patrão 2Documento88 páginasDireito Internacional Privado I Aulas Práticas Patrão 2Filipe Rodrigues BandeiraAinda não há avaliações
- Casos Praticos - Dip I 4 AnoDocumento9 páginasCasos Praticos - Dip I 4 Anocarlaaspedrosa9874Ainda não há avaliações
- Medicina Legal (Sebenta Raquel Barroso 14/15)Documento85 páginasMedicina Legal (Sebenta Raquel Barroso 14/15)Mariana MoreirAinda não há avaliações
- Resumo de Medicina LegalDocumento101 páginasResumo de Medicina LegalMariana MoreirAinda não há avaliações
- Dow 3Documento27 páginasDow 3Mariana MoreirAinda não há avaliações
- Contratos DIPDocumento10 páginasContratos DIPFilipe Rodrigues BandeiraAinda não há avaliações
- Bons Sebenta-DIP TeóricaDocumento78 páginasBons Sebenta-DIP TeóricaFilipe Rodrigues BandeiraAinda não há avaliações
- Medicina Legal (Sebenta Raquel Barroso 14/15)Documento85 páginasMedicina Legal (Sebenta Raquel Barroso 14/15)Mariana MoreirAinda não há avaliações
- Pedro Silva e Lara Costa: Princípio Da Não TransitividadeDocumento69 páginasPedro Silva e Lara Costa: Princípio Da Não TransitividadeMariana MoreirAinda não há avaliações
- Natureza Jurídica Dos Direitos ReaisDocumento27 páginasNatureza Jurídica Dos Direitos ReaisMariana MoreirAinda não há avaliações
- Direito Internacional Privado SebentaDocumento79 páginasDireito Internacional Privado Sebentaleonardo pedroAinda não há avaliações
- Resumo de Medicina LegalDocumento101 páginasResumo de Medicina LegalMariana MoreirAinda não há avaliações
- Critérios de Correcção Época Antecipada 2015 2016Documento4 páginasCritérios de Correcção Época Antecipada 2015 2016Mariana MoreirAinda não há avaliações
- Pocesso Penal MPaixãoDocumento82 páginasPocesso Penal MPaixãoMariana MoreirAinda não há avaliações
- B. Sebenta (Cátia Fernandes)Documento60 páginasB. Sebenta (Cátia Fernandes)Carolina LagoelaAinda não há avaliações
- Casos Práticos - 1233121221Documento18 páginasCasos Práticos - 1233121221Al ber13 1Ainda não há avaliações
- DIP - RESOLUÇÃO CP - Patrão (Dalila)Documento44 páginasDIP - RESOLUÇÃO CP - Patrão (Dalila)Mariana MoreirAinda não há avaliações
- Pocesso Penal MPaixãoDocumento82 páginasPocesso Penal MPaixãoMariana MoreirAinda não há avaliações
- DPP PráticasDocumento30 páginasDPP PráticasMariana MoreirAinda não há avaliações
- Teorias Da Personalidade - Psi PersonalidadeDocumento5 páginasTeorias Da Personalidade - Psi PersonalidadeTiago BaggioAinda não há avaliações
- A Beleza No Mundo, No Homem e em DeusDocumento61 páginasA Beleza No Mundo, No Homem e em DeusSilvaAinda não há avaliações
- Livro A Consciencia DR FiuzaDocumento236 páginasLivro A Consciencia DR FiuzaJane Andrade100% (1)
- ASSOCIACIONISMODocumento5 páginasASSOCIACIONISMOMikaelly RuthAinda não há avaliações
- BORNHEIM O.ser.e.o.nada - Como.cisão - InsustentávelDocumento7 páginasBORNHEIM O.ser.e.o.nada - Como.cisão - InsustentávelcowboywsAinda não há avaliações
- Convergencias Research Books PDFDocumento197 páginasConvergencias Research Books PDFluisricardosantosAinda não há avaliações
- 062 - Cláudia Maria Rocha de OliveiraDocumento322 páginas062 - Cláudia Maria Rocha de OliveiraLuiz HonorioAinda não há avaliações
- Redescobrir VigotskyDocumento24 páginasRedescobrir VigotskyMeire Moura67% (3)
- Teoria Da Democracia de SartoriDocumento23 páginasTeoria Da Democracia de SartoriPaulo MendonçaAinda não há avaliações
- John LuckDocumento9 páginasJohn LuckAndrônico TiagoAinda não há avaliações
- Ciência e ConhecimentoDocumento39 páginasCiência e ConhecimentoAriane SalvadorAinda não há avaliações
- Filosofia Analítica - Sto. AgostinhoDocumento97 páginasFilosofia Analítica - Sto. AgostinhoSelemane ChaleAinda não há avaliações
- A Angústia de KierkegaardDocumento5 páginasA Angústia de KierkegaardAlexandre FerreiraAinda não há avaliações
- Tema Onipotencia, Onisciencia e OnipresencaDocumento18 páginasTema Onipotencia, Onisciencia e OnipresencajosiasAinda não há avaliações
- Rawn Clark - A Bardon Companion - PortuguêsDocumento46 páginasRawn Clark - A Bardon Companion - Portuguêsmariosergio05Ainda não há avaliações
- A Memória Humana Como Objeto de PesquisaDocumento19 páginasA Memória Humana Como Objeto de PesquisaConceição SilvaAinda não há avaliações
- O Empirismo de David HumeDocumento31 páginasO Empirismo de David HumeMnAinda não há avaliações
- Artigo ReflexoesDocumento13 páginasArtigo Reflexoesmichelle bobsinAinda não há avaliações
- A Diferença (Ontológica) Entre Texto e Norma - Lênio StreckDocumento32 páginasA Diferença (Ontológica) Entre Texto e Norma - Lênio StreckCRISTIANO MAGALHAESAinda não há avaliações
- Apostila de Exercício de Filosofia CursinhoDocumento11 páginasApostila de Exercício de Filosofia CursinhoPachêco Estudioso100% (1)
- Tabula RasaDocumento2 páginasTabula RasaElgs SilvaAinda não há avaliações
- Metafísica. Asaratearaujo2Documento12 páginasMetafísica. Asaratearaujo2Ádamugi Sacarolha ÁdamoAinda não há avaliações
- Nietzsche, Filósofo Da Religião (Alexandre H. Reis)Documento15 páginasNietzsche, Filósofo Da Religião (Alexandre H. Reis)Alexandre H. ReisAinda não há avaliações
- Artigo-A Proposta de Popper Sobre Filosofia Da MenteDocumento6 páginasArtigo-A Proposta de Popper Sobre Filosofia Da MenteCoderPYAinda não há avaliações
- Mot Lider TCC PDFDocumento56 páginasMot Lider TCC PDFJenneferAinda não há avaliações
- Costa Jurandir Freire As Sombras e o SoproDocumento27 páginasCosta Jurandir Freire As Sombras e o SoprotrblhltrrAinda não há avaliações
- FrustaçãoDocumento9 páginasFrustaçãoSofiaBorgesAinda não há avaliações
- 2008 - Arqueologia Da Psicanálise - o Problema Da Cura PDFDocumento13 páginas2008 - Arqueologia Da Psicanálise - o Problema Da Cura PDFGuilhermeHendersonAinda não há avaliações
- Esferas Do EuDocumento21 páginasEsferas Do EuIvanny JetroAinda não há avaliações
- W Filosofia-1Documento16 páginasW Filosofia-1Assaxnho OmarAinda não há avaliações